Um mergulho em “Adolescência”, o hit de quase 100 milhões de views da Netflix
O mais recente hit da Netflix não é uma obra de true crime, ainda que se avizinhe de alguns recursos costumeiramente associados ao subgênero...

texto de Leandro Luz
O mais recente hit da Netflix não é uma obra de true crime, ainda que se avizinhe de alguns recursos costumeiramente associados ao subgênero, tais como a análise meticulosa de uma situação envolvendo um crime, a hipervalorização das emoções das pessoas envolvidas com uma tragédia e a investigação de supostas motivações de quem incorreu em um ato criminoso. Não, a minissérie “Adolescência” (“Adolescence”, 2025), criada por Stephen Graham e Jack Thorne, é um engenhoso trabalho calcado nos códigos e nas convenções de uma certa vertente do drama que se associa às noções da psicologia para investigar comportamentos e traduzir, geralmente com elementos de suspense ou de horror, uma determinada história em uma obra de ficção. Podemos notar exemplos desse tipo de narrativa em obras como “O Silêncio dos Inocentes” (“The Silence of the Lambs”, Jonathan Demme, 1991), “Em Carne Viva” (“In the Cut”, Jane Campion, 2003) e “Ilha do Medo” (“Shutter Island”, Martin Scorsese, 2010), apenas para citar três exemplos que usam e abusam da artificialidade deliciosa do gênero.
Ao contrário desses exemplos, no entanto, a novidade em “Adolescência” está no fato de seus criadores e de seu diretor, Philip Barantini, optarem por uma abordagem muito menos afetada do ponto de vista da dramaturgia. Quanto ao estilo, por outro lado, há uma guinada desmedida em direção à artificialidade, pois cada um dos episódios é gravado em plano-sequência, ou seja, sem cortes entre o início e o fim das ações das personagens, que são usadas a todo momento para conduzir o espectador cena a cena, sequência a sequência em tempo real, na tentativa de criar, portanto, uma forte impressão de realidade. Cada episódio tem mais ou menos uma hora de duração. Logicamente, cada um dos quatro planos – um para cada capítulo – também. Tal opção imediatamente chama a atenção para si (vide os comentários que se proliferam a respeito do projeto internet afora), independentemente de bem servir ou não à narrativa.
Se diretores como Alfred Hitchcock em “Festim Diabólico” (“Rope”, 1948) e Aleksandr Sokurov em “Arca Russa” (“Russkiy Kovcheg”, 2002), para ficar em dois exemplos ao mesmo tempo distintos e incontornáveis, souberam utilizar a técnica como um chamariz para seduzir pela curiosidade os seus espectadores e, ao mesmo tempo, foram inteligentes ao usar o plano-sequência para injetar dinamismo e vigor para as suas respectivas ações, já em “Adolescência” podemos observar alguns tropeços. Apesar de ser digno de nota todo o empenho artístico e técnico que orbita a urdidura da minissérie, nem sempre as escolhas formais favorecem ao que está sendo contado, independentemente do objetivo último pretendido pelos seus criadores: denunciar os diversos casos de feminicídio perpetrados por homens jovens na Grã-Bretanha.
Talvez os trabalhos anteriores de Stephen Graham e Jack Thorne possam nos dar algumas pistas relativas à maneira como organizam e sedimentam os eventos e as escolhas estéticas de “Adolescência”. Thorne é um dramaturgo e roteirista que trilhou um longo caminho no teatro até chamar a atenção de executivos do audiovisual, sendo contratado para escrever para projetos grandes como o queridinho “Extraordinário” (“Wonder”, Stephen Chbosky, 2017), o remake “O Jardim Secreto” (“The Secret Garden”, Marc Munden, 2020) e o original Netflix “Enola Holmes” (Harry Bradbeer, 2020). Graham, por sua vez, é um ator de mão cheia que conquistou o seu espaço já nos seus primeiros trabalhos para o cinema e para a TV no início dos anos 2000: “Snatch – Porcos e Diamantes” (“Snatch”, Guy Ritchie, 2000), “Irmãos de Guerra” (“Band of Brothers”, Steven Spielberg e Tom Hanks, 2001), “Gangues de Nova York” (“Gangs of New York”, Martin Scorsese, 2002) e “Isto É Inglaterra” (“This Is England”, Shane Meadows, 2006) e “O Chef” (“Boiling Point”, 2021), de Philip Barantini, um filme de 92 minutos gravado em plano-sequência na véspera do lockdown. Em 2023, Graham se tornou produtor executivo e transformou “O Chef”, ao lado de Barantini James Cummings, em uma série de TV de quatro episódios para a BBC. Ambos ingleses, nascidos na década de 1970, que se juntaram para fazer de “Adolescence” a novidade do momento, ou, a melhor série de todos os tempos da última semana.
Olhando para essas duas trajetórias – somadas ao percurso de Barantini que, assim como Graham, teve toda uma carreira pregressa como ator antes de se aventurar em outras funções – dá para perceber um faro bastante apurado do trio para os negócios. Este comentário vem um pouco carregado de cinismo, mas não pretende se encerrar em si mesmo. Podemos passar, portanto, a um procedimento mais analítico a respeito de alguns elementos propostos pela obra. Caro leitor: esteja ciente de que, a partir deste ponto no texto, algumas peças importantes da trama serão reveladas.

Dia 1: mistério e choque. É inegável como, logo no primeiro terço do primeiro episódio, somos apresentados de maneira muito eficiente ao cerne da questão e ao modo como as coisas irão proceder dali em diante. Uma dupla de policiais, um homem e uma mulher, aparentemente aguardam um chamado para a ação. É de manhã bem cedo e o homem demonstra preocupação com o filho, que por mensagem de áudio enviada pelo celular diz sentir dores de barriga – não é a primeira vez, o homem nos revela – e por isso não quer ir para a escola. Em virtude do nome da minissérie, nos perguntamos se esta é a relação entre pai e filho adolescente que iremos acompanhar durante as próximas quatro horas. Esse pensamento logo se evapora porque, imediatamente após a exposição desse primeiro conflito, somos arremessados em uma corrida frenética com dezenas de carros ocupados por policiais altamente armados que invadem a casa de uma família de classe média em uma cidade indeterminada na Inglaterra. Os fuzis são enormes e a abordagem extremamente rigorosa. Os policiais sem rosto apressadamente perscrutam toda a casa até chegar no quarto de um menino de 13 anos, Jamie, interpretado pelo jovem estreante Owen Cooper, que é acordado com uma arma apontada para o seu rosto, urina nas calças diante do susto e é levado para a delegacia mais próxima, detido sob suspeita de homicídio.
Durante todo o percurso da casa até a delegacia, a câmera se concentra em Jamie, cujo rosto recusa os olhares de Luke (Ashley Walters), o policial que conhecemos no primeiro minuto do episódio e que irá conduzir parcialmente a trama, e do assistente social que acompanha o processo. Também recusa veementemente a câmera. Jamie se contorce no banco de trás da viatura, rói as unhas, chora copiosamente, tem dificuldades para responder às perguntas simples feitas por Luke e não sabe o que fazer com as mãos, que ora coloca na frente da boca, ora usa para tapar os olhos. Para quem assiste a cena pela segunda vez, a interpretação pode ser completamente diferente do que a de um espectador de primeira viagem. Com esses gestos, Jamie demonstra desespero por incompreensão ou por medo de ter sido descoberto? Mesmo ao ter afirmado inocência durante a abordagem policial em seu quarto, estaria Jamie falando a verdade ou maquinando alguma forma de se livrar do crime hediondo que cometeu?
“Ele não fez nada. Vocês cometeram um grande engano!”, exclama Eddie, o pai da família, interpretado pelo próprio criador da série, Stephen Graham. É o choque que, coordenado com a omissão de fatos do crime supostamente cometido por Jamie, dá o tom do primeiro episódio, que carrega o seu mistério até os cinco minutos finais, quando as personagens e nós, espectadores, somos confrontados com as provas materiais do crime, a saber: fotos e vídeos oriundos de câmeras de segurança demonstram o trajeto de Jamie até o estacionamento cujo assassinato foi consumado; a vítima, Katie Leonard (Emilia Holliday), foi esfaqueada sete vezes e morreu ali mesmo no local. Após o confronto e a constatação da grande tragédia, a câmera realiza um movimento ágil para reenquadrar com rigor Jamie e seu pai, aquele ainda em negação, este rejeitando envergonhadamente qualquer contato com o menino – em um gesto que poderia caber no melodrama mais histriônico de Hollywood.

Dia 3: suspense e ação. Se no primeiro episódio o vai-e-vem da câmera e das personagens – que vão da casa para a delegacia, da cela para a sala de espera, do escritório dos detetives para as reuniões entre Jamie, seu pai e o advogado – funciona dentro da lógica estabelecida pelo plano-sequência, é justamente neste episódio subsequente que essa insistência por uma estrutura formal pré-estabelecida começa a ruir. A partir do momento que o nosso então aparente protagonista, o policial Luke, começa a responder a uma necessidade do roteiro de percorrer grandes distâncias e de coletar depoimentos de uma quantidade maior de pessoas, a súplica por um corte ou por uma elipse se torna cada vez mais iminente. Um exemplo bastante evidente disso é o fato do plano-sequência excluir a possibilidade do recurso da montagem paralela, que poderia beneficiar e muito um episódio como esse que fica preso em seu próprio devir “montanha-russa”, desesperado em agradar um público ávido pela ação, materializada em perseguições, brigas entre estudantes e confrontos entre praticantes de bullying e suas vítimas.
O roteiro deste segundo episódio elege duas personagens que funcionam como pêndulos da ação: a amiga da vítima, que é incompreendida pelos seus pares e enfrenta uma incomunicabilidade total diante de seus professores e dos policiais, e o amigo de Jamie, cuja arrogância e insubordinação o situam como um catalisador temático, informando que o problema não pode ser visto como algo individualizante. Não dá para atribuir todos os males do mundo ao machismo e à misoginia de Jamie. Outras responsabilidades estão em jogo.
Voltando à ideia de montagem paralela, assistindo aos eventos deste episódio fica evidente como eles poderiam se beneficiar, no campo da construção da tensão, de um recurso simples como esse. Ao invés de assistirmos, por exemplo, à amiga da vítima tendo um difícil diálogo com a sua professora para só depois acompanharmos Luke em conversa com o seu filho a respeito da forma como os adolescentes utilizam as redes sociais e todas as particularidades do uso dos emojis, por que não estruturar essa sequência de modo a criar um acúmulo pela justaposição, ao invés de deixar a construção da tensão prejudicada por esse isolamento? Outro exemplo é quando a câmera passa pela janela no início da perseguição de Luke, que num rompante sai atrás do amigo de Jamie. O recurso é absolutamente desperdiçado a partir do momento em que estamos acompanhando um arsenal de ações e de personagens e de locações e de eventos em um plano-sequência que já dura mais de trinta e cinco minutos. Qual seria o impacto desta cena se ela, e somente ela, fosse filmada em plano-sequência? Um palpite: poderia ser bem maior.
Para ajudar nesse exercício de indagação, basta lembrarmos de como em “Profissão: Repórter” (“Professione: Reporter”, Michelangelo Antonioni, 1975) toda a operação do plano-sequência que orbita o personagem de Jack Nicholson em plena alienação se dá em uma circunstância específica da trama, concentrada em tirar o máximo da técnica em prol de uma intenção dramática específica. Assim como acontece com a famosa cena de abertura orquestrada por Orson Welles em “A Marca da Maldade” (“Touch of Evil”, 1958). Em “Adolescência”, muitas vezes o que vemos é uma diluição causada justamente por essa tentativa incessante, teimosa de se manter erguida uma proposta formal.

7 meses: jogo de xadrez. Ao contrário do segundo episódio, que começa e termina com duas imagens de coroas de flores em homenagem à vítima, separadas geograficamente por uma grande distância (na qual a minissérie dá conta de revelar por meio do movimento de câmera que ficou mais famoso – a passagem da câmera na mão para o drone -, explorado a torto e a direito pelos marqueteiros de plantão), o terceiro capítulo começa e termina com imagens parcialmente desfocadas no centro do quadro e se concentra nos aposentos da delegacia. Mais especificamente, em uma sala bastante ampla e abundantemente iluminada, na qual Jamie conversa com Briony (Erin Doherty), uma psicóloga contratada para escrever um relatório independente a respeito do estado psicológico do menino. Como de praxe, não há cortes e, dada a escassez espacial imposta pela locação, a câmera fica confinada àquele ambiente sem poder fazer muita coisa diante da impossibilidade do corte. O que as pessoas têm chamado de balé mais parece um carrossel de parque de diversões. A beleza e o encantamento estão lá, certamente. As luzes, os cavalos coloridos, a música sedutora. Mas como sustentar o interesse após três ou quatro voltas?
Na novela “O Livro do Xadrez” (Schachnovelle, 1941), escrita pelo austríaco Stefan Zweig durante o seu exílio no Brasil, dois personagens opostos se enfrentam em uma partida de xadrez. A trama é situada em um navio que deixa Nova York com destino a Buenos Aires, e o narrador toma ciência de que há um passageiro ilustre a bordo: Mirko Czentovic, prodigioso campeão mundial, sem qualquer trato social, mas com uma habilidade enxadrística até então inigualável. O seu confronto se dá com Dr. B., um homem misterioso que acaba derrotando o campeão afirmando não jogar há décadas. A grande sacada de Zweig está no fato dele mudar consideravelmente a sua abordagem no momento em que o Dr B. começa a contar a sua história para o narrador. Escrita um ano antes de seu autor cometer suicídio, a novela dá conta de explorar a capacidade que Zweig tem de não se autoimpor uma prisão desnecessária: de um relato direto e objetivo, o escritor adota um estilo febril, intenso, quase delirante. O que presumivelmente era a ação mais importante para a narrativa, o jogo de xadrez e as estratégias adotadas por cada personagem, dá lugar a uma alucinante digressão a respeito da noção do tempo e de como o ser humano é capaz de sobreviver a situações-limite (no caso desta história, Dr B. fora preso e torturado pela Gestapo durante o regime nazista).
A comparação deveras injusta entre obras se dá pela maneira como o terceiro episódio de “Adolescência” se configura. Estamos diante não apenas de uma “consulta médica”, mas de uma batalha fervorosa entre dois lados que, apesar de não estarem um contra o outro, se digladiam para conseguir alcançar os seus respectivos objetivos: Jamie faz de tudo para desviar a atenção da psicóloga, insistindo em uma estratégia evasiva e calcada na negação absoluta, ainda que seja capaz de demonstrar as fragilidades esperadas de um menino de 13 anos; enquanto isso, Briony luta para manter uma postura de autoridade, sem cair na tirania, tentando a todo custo conquistar a confiança de alguém que não está minimamente disposto a ceder. Pelo contrário, Jamie oscila entre a passividade dissimulada e o descontrole emocional, revelando as bases para a misoginia que o levou a matar Katie. O plano-sequência aqui tem o objetivo primordial de valorizar as atuações. E consegue, evidentemente. Owen Cooper demonstra uma habilidade fora do comum, nuances muito complexas para a idade e a experiência que tem. Erin Doherty enverga, mas não quebra, e tem um controle absurdo das próprias microexpressões faciais e de sua respiração, nunca ofegante, desesperadamente concentrada em não abrir a guarda, em não ser dominada pelo “adversário”.
No entanto, pouca coisa parece acontecer no extracampo. É como se as personagens apenas ativassem a sua existência a partir do momento em que a câmera as alcança. Distantes do olho mecânico, elas se tornam autômatos, vazias. Tão interessante quanto saber como Briony se sentiu após a primeira catarse da interação entre os dois é inteirar-se de como Jamie também lida com o vazio, com a ausência da psicóloga na sala. Esse ponto de vista, infelizmente, nos é negado. A direção até tem alguns momentos inspirados, como em uma composição na qual Jamie se aproxima ameaçadoramente de sua interlocutora e vemos o seu corpo imponente diante dela, encolhida na cadeira.
Não obstante, o que vemos na maior parte do tempo é uma câmera que faz movimentos circulares e que alterna entre campo e contracampo quase da mesma maneira que um simples corte o faria. A diferença, contudo, é que a preservação do plano único traz para a cena um “entre” que jamais é preenchido porque a esse espaço vazio o movimento constante se encarrega de mascarar. Como afirma Paulo Ricardo de Almeida em seu elucidativo texto para a Revista Contracampo: “Campo/contracampo é a principal ferramenta do cinema clássico-narrativo, visto que introduz continuidade visual, sobretudo através da regra dos 30º, a imagens completamente descontínuas. Trata-se da montagem invisível, a qual naturaliza, aos olhos do espectador, a ilusão de que os personagens ocupam o mesmo espaço cênico quando, na realidade, encontram-se separados”. Diante disso, onde estará o maravilhamento com a ilusão em “Adolescência” se o ilusionista está mais inclinado em revelar todos os seus truques?

Por fim, há um gesto que se repete aqui, e que soa tão excessivo quanto o do pai no final do primeiro episódio. Ao ser deixada sozinha na sala após a consulta, Briony finalmente descomprime, revelando o quanto aquela situação a deixou abalada. Depois de respirar um pouco e se esforçar para organizar mentalmente tudo o que viveu nos últimos cinquenta minutos, ela começa a guardar os seus papéis deixados na mesa e lembra do sanduíche que havia trazido para Jamie. Ela mal encosta no alimento e tem ânsia de vômito.
Corta para.
7 meses: resignação. O tempo é mesmo o mais poderoso dos deuses. Após um hiato de dois episódios, o núcleo familiar retorna ao centro das atrações. Se pensarmos em “Adolescência” como um longo filme de quatro horas de duração, há mesmo cortes e elipses aqui. Assim como o mais recente filme da diretora brasileira Vera Egito, “A Batalha da Rua Maria Antônia” (2023), que acaba de chegar aos cinemas brasileiros e que organiza a sua narrativa em 21 planos-sequência, intercalados por cartelas em contagem regressiva, “Adolescência”, na realidade, não se configura como um grande plano único, como os casos citados acima de Hitchcock (ainda que repleto de falseamentos) e Sokurov.
Há essa quebra entre um episódio e outro, próprio das obras feitas para TV (sejam elas séries, minisséries ou até mesmo filmes, já que intervalos comerciais contam nessa operação de intermitência). O quarto episódio vem à tona com sentimentos tão carregados de resignação que eles terminam por contaminar a própria narrativa. Passeamos pelos cômodos da casa – cozinha, sala, quartos, soleira da escada com retratos na parede -, vemos determinadas interações que ainda não tínhamos visto antes – marido e mulher, mãe e filha – e ganhamos um desfecho satisfatório: após ter a van pichada por alguém da vizinhança, Eddie leva esposa e filha ao atacadão do bairro para comprar tinta, já que água e sabão não foram o suficiente para apagar o “pervertido” de seu automóvel; no caminho de volta para casa, após conversas prosaicas e um confronto inesperado no estacionamento do mercado (curiosa essa necessidade de rima espacial com o local do crime), Eddie recebe uma ligação de Jamie, que anuncia o desejo de mudar o próprio depoimento, assumindo toda a culpa.
“What goes on in your heart?”, pergunta Ringo em uma canção subestimada dos Beatles. O último enquadramento de “Adolescência” mostra Eddie colocando o ursinho de pelúcia de Jamie para “dormir” após um choro compulsivo diante da câmera, que o registra bem de perto, ressaltando a vermelhidão de seu rosto e as veias saltadas. Com um movimento sutil, o plano se abre ligeiramente e ficamos com a cama, os cobertores, o ursinho e o papel de parede do quarto de Jamie. Um vazio absurdo. E assim como a roda-viva de imagens na minissérie, o turbilhão de palavras deste texto também termina aqui.
– Leandro Luz (@leandro_luz) pesquisa e escreve sobre cinema. Coordena a área de audiovisual do Sesc RJ, atuando na curadoria, programação e gestão de projetos em todo o estado do Rio de Janeiro. Exerce atividades de crítica no Scream & Yell e nos podcasts Tudo É Brasil, Plano-Sequência e 1 disco, 1 filme.








































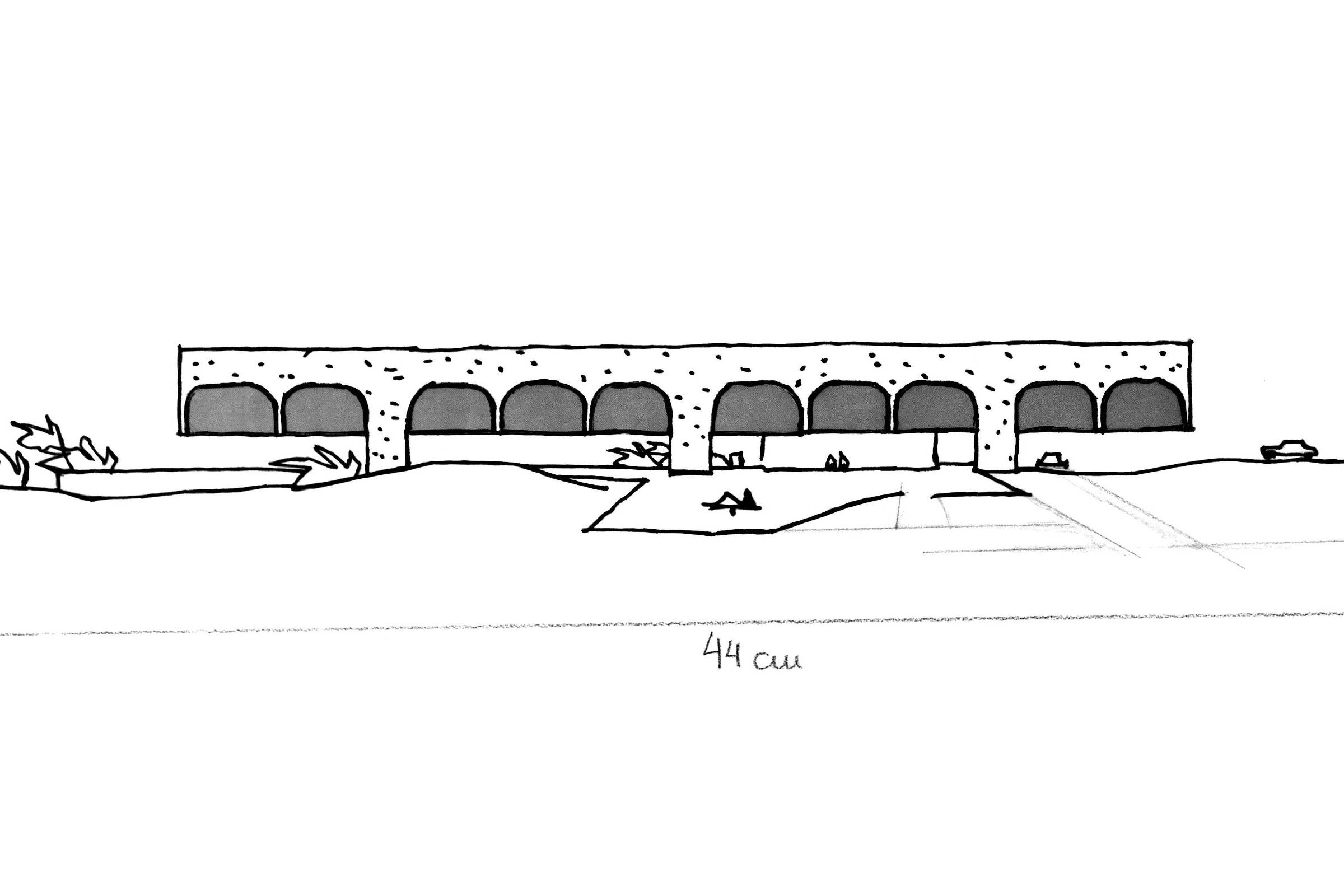







































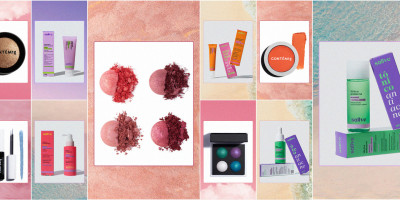











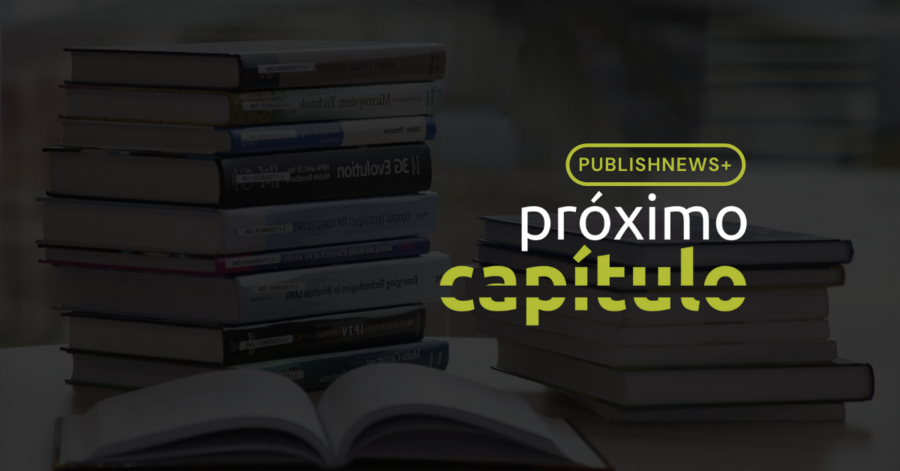










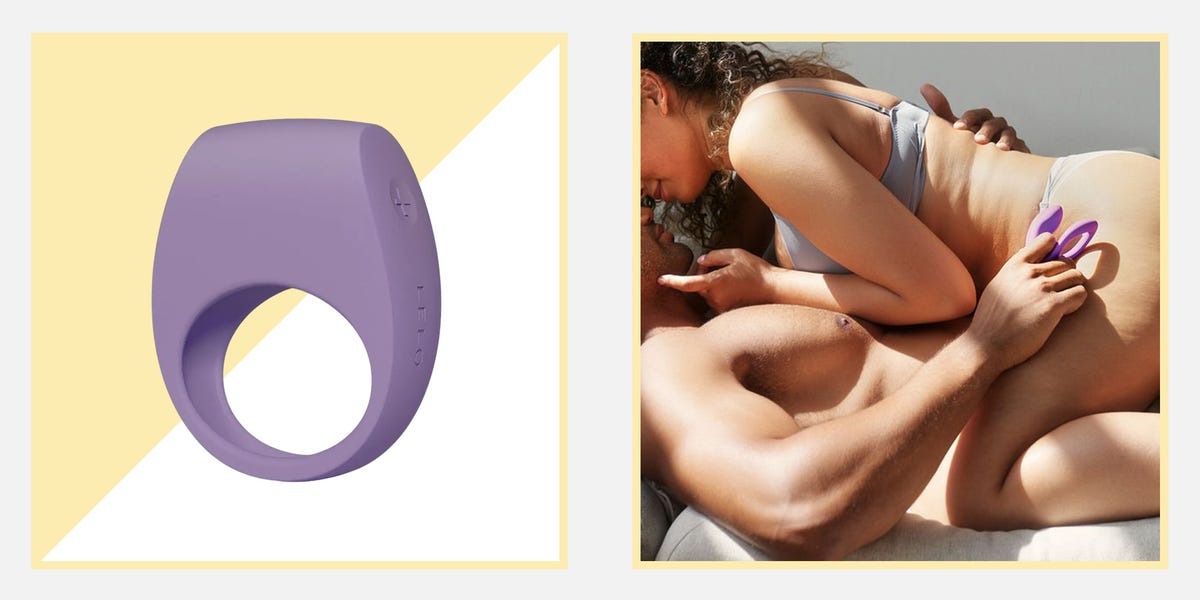












.jpeg)



.jpg)












