Um comandante do PAIGC, o homem dos mísseis Strela e de Guidaje, vem depor para a História.
Tirando o acervo documental, felizmente e em grande parte conservado e tratado, de Amílcar Cabral, para além das suas obras de cariz ideológico na luta anticolonial e como líder revolucionário, restam-nos poucos depoimentos de responsáveis do PAIGC, tanto no que se refere ao período da luta armada como nos tempos posteriores. Há uma primeira obra de Aristides Pereira, para a qual concorreu Leopoldo Amado, uma segunda também deste alto dirigente entrevistado pelo jornalista José Vicente Lopes, desta feita mais disponível e quebrando sigilos do passado; há o testemunho de Luís Cabral sobre a obra do irmão, a par do seu percurso dentro do PAIGC, biografia e hagiografia; temos igualmente testemunhos de dirigentes ou quadros do PAIGC de origem cabo-verdiana ou guineense, mas o cabal esclarecimento que comportam é diminuto, alguns deles têm até a particularidade de serem de pura vanglória ou procurarem trazer justificação às tragédias de governação a partir de 1974 (das quais eles não têm qualquer responsabilidade). O que Rosário Luz vem procurar neste trabalho biográfico (ou autobiográfico?) sobre Manecas Santos é procurar revisitar a viagem de uma sigla, revelada efémera, sobre a unidade Guiné-Cabo Verde, contando com um ator de eleição, o então jovem cabo-verdiano Manuel Maria Monteiro Santos, nascido na cidade de Mindelo, em ambiente burguês, tendo estudado em Lisboa e daqui partido para a luta, preparando-se em Cuba, e depois, degrau a degrau, galgando a hierarquia e assumindo responsabilidades nomeadamente no período histórico de 1973, quando o aparecimento dos mísseis Strela abanaram fortemente a última supremacia que restava às Forças Armadas na Guiné; viagem que se prolonga com o seu desempenho no poder do Estado, como chegou a ministro da Economia e das Finanças e vem agora depor sobre o colapso do Estado. Temos, pois, Manecas Santos na primeira pessoa, em jeito de prólogo fala da sua chegada à Guiné em 1968, como fez a tarimba, com quem combateu e aonde, em 1971 passa a ser comandante de um corpo de Exército e no ano seguinte, tendo voltado de treinos em antiaéreos na Crimeia, irá assumir o comando militar na frente norte. Fala-nos do Mindelo, da família e do meio; concluído o liceu em S. Vicente, vem para Lisboa, estuda na Faculdade de Ciências, refere-nos os estudantes africanos, em 1964 parte para Paris, daqui segue para Argel, depois Havana, confessa que a intensidade do treinamento físico foi implacável e que, fisicamente, a guerra na Guiné não foi mais do que um passeio. Descreve o Exército de Libertação e como ele foi concebido por Amílcar Cabral. “Cabral cuidava pessoalmente da formação de todas as unidades do Exército. Era ele quem escolhia o comandante, o segundo oficial e organizava toda a estrutura. Apesar da sua baixa estatura, emanava autoridade, e quando era necessário impor-se, fazia-o sem titubear. No entanto, possuía uma natureza afável e um trato agradável. Mantinha uma relação de extrema proximidade com os soldados, chamando cada um pelo nome e visitando frequentemente as bases para verificar o andamento das operações.” Menciona o recrutamento dos guerrilheiros, como o trabalho de mobilização foi encetado no Sul. Alude à organização tanto do Exército como o papel das milícias, o apoio dado pela União Soviética, observa a importância da medida tomada no I Congresso em que o poder miliar ficou subordinado ao poder político. E deixa-nos uma descrição detalhada de como se processou a guerrilha na Guiné, esta foi o palco das mais violentas das guerras coloniais. É neste preciso instante que Manecas Santos nos traz a primeira inverdade: em meados de 1968, cerca de dois terços do território já estavam sob a administração do PAIGC. Há cerca de 18 anos à porfia no que concerne a História da Guiné Portuguesa e a História da Guiné-Bissau, tenho-me deparado com mitologias e mentiras cujos autores teimam em franco despudor reincidir. O doutor Carlos Lopes, a quem devemos estudos de alto significado, escreveu que na Operação Tridente o PAIGC tinha abatido 500 militares portugueses; o historiador português Rui Ramos veio dizer que em 1970 o PAIGC tinha sido sustido, já não tinha bases na Guiné, vinha do exterior, flagelava e retirava – pergunta-se como é que é possível uma tirada destas quando possuímos a história das campanhas da Guiné que demonstram inequivocamente que nesse ano de 1970 íamos aos mesmo santuários em que PAIGC estava instalado há anos, e com pouco sucesso. Inevitavelmente, falará da operação de cerco a Guidaje e da resposta das tropas portuguesas enviando um batalhão de comandos africanos até uma base do PAIGC em Cumbamory. Dirá: “Sofremos baixas absolutamente negligenciadas: cinco feridos e nenhum homem morto. O exército colonial sofreu baixas pesadas. O adversário deixou 16 cadáveres em campo, todos de comandos africanos.” Desse-se Manecas Santos ao cuidado de investigar o que sabemos sobre tal operação, teria ido ao Arquivo da Defesa Nacional, onde existe um regis

Tirando o acervo documental, felizmente e em grande parte conservado e tratado, de Amílcar Cabral, para além das suas obras de cariz ideológico na luta anticolonial e como líder revolucionário, restam-nos poucos depoimentos de responsáveis do PAIGC, tanto no que se refere ao período da luta armada como nos tempos posteriores. Há uma primeira obra de Aristides Pereira, para a qual concorreu Leopoldo Amado, uma segunda também deste alto dirigente entrevistado pelo jornalista José Vicente Lopes, desta feita mais disponível e quebrando sigilos do passado; há o testemunho de Luís Cabral sobre a obra do irmão, a par do seu percurso dentro do PAIGC, biografia e hagiografia; temos igualmente testemunhos de dirigentes ou quadros do PAIGC de origem cabo-verdiana ou guineense, mas o cabal esclarecimento que comportam é diminuto, alguns deles têm até a particularidade de serem de pura vanglória ou procurarem trazer justificação às tragédias de governação a partir de 1974 (das quais eles não têm qualquer responsabilidade).
O que Rosário Luz vem procurar neste trabalho biográfico (ou autobiográfico?) sobre Manecas Santos é procurar revisitar a viagem de uma sigla, revelada efémera, sobre a unidade Guiné-Cabo Verde, contando com um ator de eleição, o então jovem cabo-verdiano Manuel Maria Monteiro Santos, nascido na cidade de Mindelo, em ambiente burguês, tendo estudado em Lisboa e daqui partido para a luta, preparando-se em Cuba, e depois, degrau a degrau, galgando a hierarquia e assumindo responsabilidades nomeadamente no período histórico de 1973, quando o aparecimento dos mísseis Strela abanaram fortemente a última supremacia que restava às Forças Armadas na Guiné; viagem que se prolonga com o seu desempenho no poder do Estado, como chegou a ministro da Economia e das Finanças e vem agora depor sobre o colapso do Estado. Temos, pois, Manecas Santos na primeira pessoa, em jeito de prólogo fala da sua chegada à Guiné em 1968, como fez a tarimba, com quem combateu e aonde, em 1971 passa a ser comandante de um corpo de Exército e no ano seguinte, tendo voltado de treinos em antiaéreos na Crimeia, irá assumir o comando militar na frente norte.
Fala-nos do Mindelo, da família e do meio; concluído o liceu em S. Vicente, vem para Lisboa, estuda na Faculdade de Ciências, refere-nos os estudantes africanos, em 1964 parte para Paris, daqui segue para Argel, depois Havana, confessa que a intensidade do treinamento físico foi implacável e que, fisicamente, a guerra na Guiné não foi mais do que um passeio. Descreve o Exército de Libertação e como ele foi concebido por Amílcar Cabral. “Cabral cuidava pessoalmente da formação de todas as unidades do Exército. Era ele quem escolhia o comandante, o segundo oficial e organizava toda a estrutura. Apesar da sua baixa estatura, emanava autoridade, e quando era necessário impor-se, fazia-o sem titubear. No entanto, possuía uma natureza afável e um trato agradável. Mantinha uma relação de extrema proximidade com os soldados, chamando cada um pelo nome e visitando frequentemente as bases para verificar o andamento das operações.” Menciona o recrutamento dos guerrilheiros, como o trabalho de mobilização foi encetado no Sul. Alude à organização tanto do Exército como o papel das milícias, o apoio dado pela União Soviética, observa a importância da medida tomada no I Congresso em que o poder miliar ficou subordinado ao poder político. E deixa-nos uma descrição detalhada de como se processou a guerrilha na Guiné, esta foi o palco das mais violentas das guerras coloniais. É neste preciso instante que Manecas Santos nos traz a primeira inverdade: em meados de 1968, cerca de dois terços do território já estavam sob a administração do PAIGC.
Há cerca de 18 anos à porfia no que concerne a História da Guiné Portuguesa e a História da Guiné-Bissau, tenho-me deparado com mitologias e mentiras cujos autores teimam em franco despudor reincidir. O doutor Carlos Lopes, a quem devemos estudos de alto significado, escreveu que na Operação Tridente o PAIGC tinha abatido 500 militares portugueses; o historiador português Rui Ramos veio dizer que em 1970 o PAIGC tinha sido sustido, já não tinha bases na Guiné, vinha do exterior, flagelava e retirava – pergunta-se como é que é possível uma tirada destas quando possuímos a história das campanhas da Guiné que demonstram inequivocamente que nesse ano de 1970 íamos aos mesmo santuários em que PAIGC estava instalado há anos, e com pouco sucesso.
Inevitavelmente, falará da operação de cerco a Guidaje e da resposta das tropas portuguesas enviando um batalhão de comandos africanos até uma base do PAIGC em Cumbamory. Dirá: “Sofremos baixas absolutamente negligenciadas: cinco feridos e nenhum homem morto. O exército colonial sofreu baixas pesadas. O adversário deixou 16 cadáveres em campo, todos de comandos africanos.” Desse-se Manecas Santos ao cuidado de investigar o que sabemos sobre tal operação, teria ido ao Arquivo da Defesa Nacional, onde existe um registo das transmissões portuguesas que interferiram nas transmissões de Cumbamory para Conacri, onde se diz abertamente que as forças do PAIGC tiveram um número de mortos superior a 60…
Quanto ao assassinato de Cabral, é contido, não fala nem na PIDE nem em Spínola, dirá que foi praticado por ilustres desconhecidos, está certamente esquecido que o embaixador de Cuba em Conacri, Oscar Oramas, chegou pouco depois ao local do crime, e escreveu mais tarde que viu Osvaldo Vieira, entre outros, a esconder-se atrás da vegetação; acontece que esses ilustres desconhecidos ameaçaram todo o grupo cabo-verdiano de morte, deram-lhes ordem de prisão, enquanto se dirigiam para Sékou Turé. Acontece que não existe nenhum documento que comprove qualquer propósito de Spínola ou da PIDE para induzir tal assassinato. Mas convém deixar sempre no ar de que o complô tinha o braço longo de Spínola e dos seus infiltrados.
Reconheça-se a importância do seu depoimento na época do pós-Cabral, dá-nos um retrato da multiplicidade de contradições dentro do PAIGC e da sua ocupação do Estado, relata o definhamento ideológico, fala da sua atividade como ministro e quantos aos fuzilamentos praticados pelo PAIGC, dirá algo de surpreendente, que talvez por volta de 1976 Luís Cabral jantou com Ramalho Eanes em Belém, e este ter-lhe-á pedido que fossem devolvidos a Portugal antigos efetivos do exército colonial, Cabral Terá concordado, convocou altos responsáveis, entre eles António Alcântara Buscardini, chefe dos Serviços de Segurança do Estado e este, com toda a desfaçatez informou Cabral que os soldados não podiam ser devolvidos porque já tinham sido executados, tinha tomado individualmente tal decisão, Cabral engoliu a afronta. A história seguramente estará na desmemória de Manecas, haverá fuzilamentos, que estão devidamente registados até dezembro de 1977, e há que perguntar como é que é possível um chefe de segurança andar a praticar matanças sem o presidente saber. Nino Vieira será uma rábula parecida depois de 14 de novembro de 1980, manda abrir as valas de gente executada, ele que era primeiro-ministro, também não sabia…
Um testemunho para juntar ao de outros líderes do PAIGC, impõe-se como um retrato fiel do desmoronamento do Estado, onde Manecas Santos foi elemento preponderante.
Mário Beja Santos








































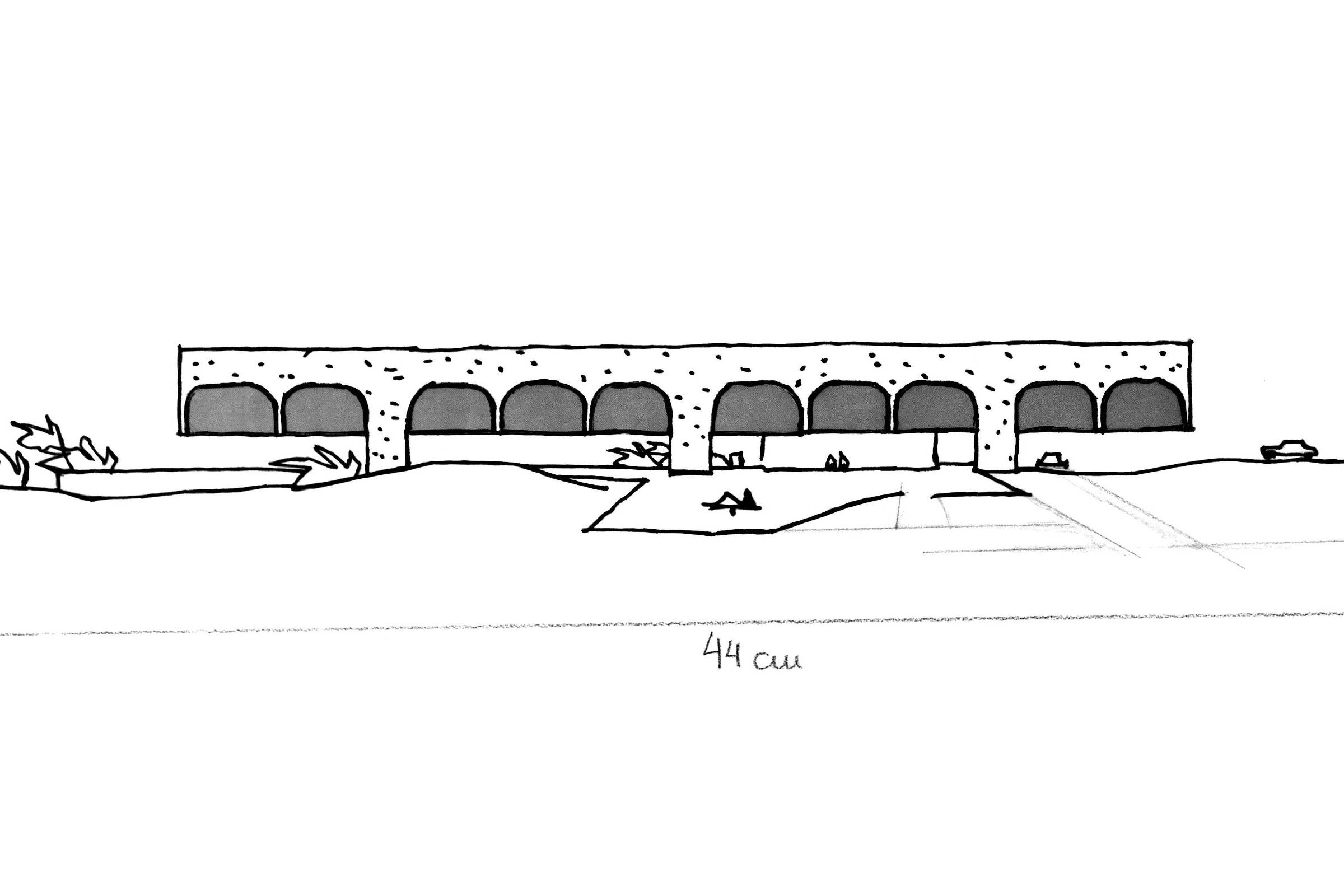








































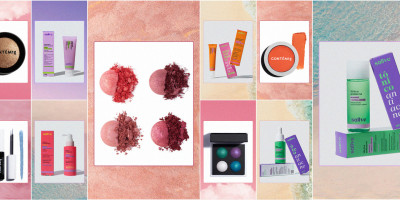










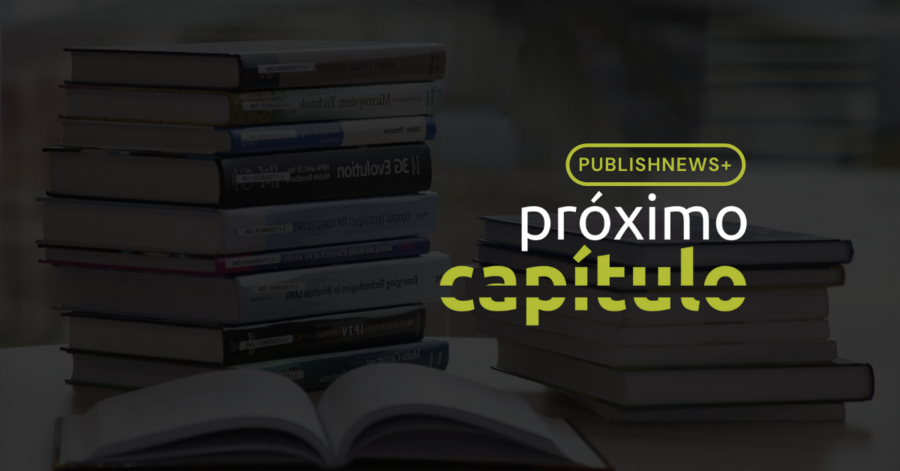










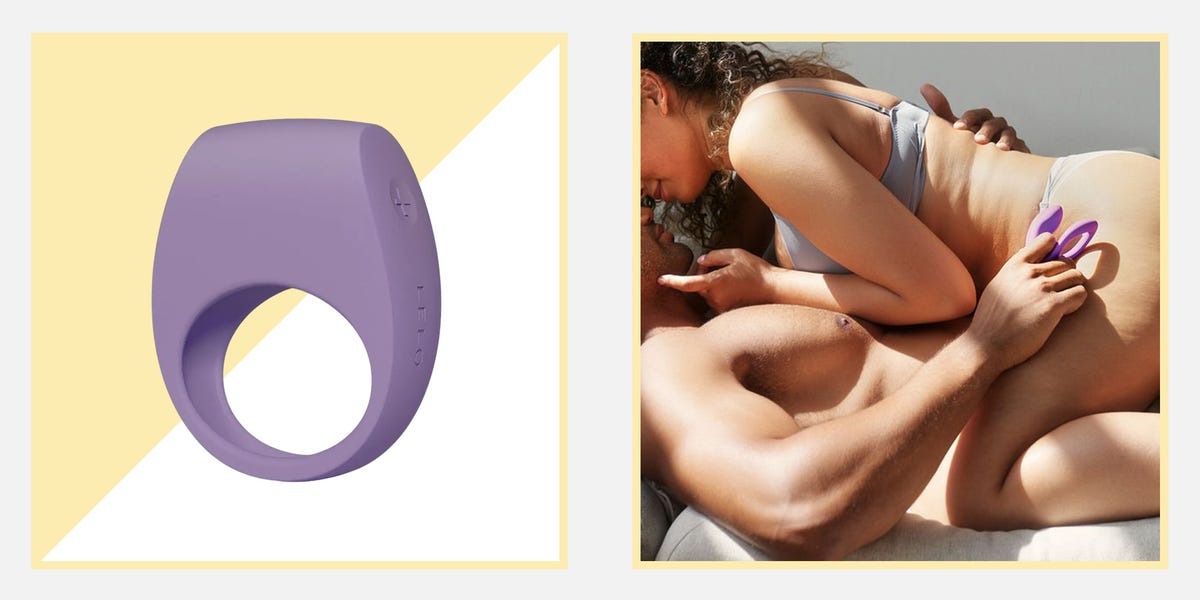












.jpeg)



.jpg)












