Entrevista: Olavo Rocha repassa a carreira do Lestics, dança o “Bolero #9” e adia a hora de parar de fazer música
Concebido ao longo de quase dois anos, “Bolero #9” traz um Lestics mais econômico. Tal característica é fruto das gravações feitas em São Roque, no interior paulista

por Bruno Capelas e Marcelo Costa
Há bandas que têm uma carreira curta e são extremamente populares. Outras, por sua vez, conseguem ter uma trajetória longeva a despeito de chegarem a poucos ouvidos. O Lestics pertence ao segundo grupo de maneira singular – até mesmo para quem acompanha o cenário independente brasileiro com afinco a banda tem certa aura de “segredo bem guardado”. Um segredo que já dura quase duas décadas e, ao final de 2024, chegou ao nono disco de carreira. Lançado seis anos após “Breu”, no maior intervalo de silêncio da banda, “Bolero #9” reflete os tempos de pandemia e brinca com a ideia de que não há mais música velha nem nova ao abraçar o tango, os instrumentos acústicos e “um bolero meio lounge music”.
“Chegamos num certo lugar em que é preciso mudar um pouco o paradigma. É um lugar em que não só não tem novo, como não tem velho: tudo soa contemporâneo”, filosofa Olavo Rocha, vocalista e letrista do grupo, que volta a ser um trio – além dele, completam a formação Marcelo Patu (baixo) e Umberto Serpieri (violão e teclados), membro fundador que retorna à banda após quase uma década. “O disco nos deu a oportunidade de nos encontrarmos, a música é o nosso terreno comum. Isso é uma sorte: poder encontrar as pessoas”, diz o artista, num papo de quatro horas regado a cerveja, azeitona e homus.
Concebido ao longo de quase dois anos, “Bolero #9” traz um Lestics mais econômico. Tal característica é fruto das gravações feitas em São Roque, no interior paulista, onde Umberto foi morar em 2014, e também da escolha por registrar as canções com base em violão de nylon. “Eu queria ter uma singeleza, uma simplicidade, por mais que as composições talvez não sejam tão simples”, afirma Olavo, que revela um senso de humor muito especial ao longo da conversa. “Não acho que eu faça letras com profundidade. Mas quando você olha pro escuro, não dá para saber quão profundo aquilo é. Às vezes, é uma tapeação, mas não tenho problema em lidar com o lado escuro da vida.”
É o tom que define letras como “Elogio ao Desfibrilador”, que poderia ser uma HQ (forma de arte também praticada pelo vocalista), ou “Correnteza”, feita na pandemia, mas cujos versos podem se encaixar antes ou depois da covid-19. “Essa letra está configurada. Ainda vamos viver isso ainda incontáveis vezes”, diz Olavo, a respeito de versos como “no coração das trevas não existe trégua” ou “o que não tá em chamas está debaixo d’água”. O tom cinza com que se pode ver o futuro também é outra tônica da conversa, que passa por temas como educação, consciência política e mudanças climáticas.
Nem tudo, porém, é escuridão nesse papo que vem a seguir. “Gosto mais quando a gente consegue ter essa dualidade mais evidente”, diz Olavo, que também aproveita para contar histórias de criança e de adolescente em Uberlândia, elencar suas músicas favoritas de cada disco da banda e contar como descobriu alguns de seus artistas favoritos – Beatles, Legião Urbana, R.E.M. e Tom Waits estão entre eles. “O Legião era a nossa Beatlemania possível. Vi o Legião em 1988 fazendo show no Uberlândia Tênis Clube. Se aquilo não muda a vida de um fulano, nada mais muda”, recorda-se, em meio a uma discussão sobre sua geração de artistas e também sobre o ato de escutar música hoje em dia.
Com 13 discos no currículo (além dos 9 do Lestics, há mais dois do Gianoukas Papoulas e outros dois da Dolores Fantasma prontos para serem descobertos), alguns singles e participações em tributos (o Lestics participou dos álbuns em homenagem ao Superguidis e aos Paralamas; já o Gianoukas está presente nos tributos ao Fellini e Walter Franco) Olavo mira a hora da aposentadoria. “Se eu pudesse parar, eu parava. Tenho a impressão que eu podia viver feliz só recebendo, ‘manda pra dentro’. Mas não consegui essa paz ainda”, brinca o músico, que, à moda do ídolo Thomas Pappon, diz gostar de ouvir os discos que faz.
Por outro lado, como alguém que já escreveu que a eternidade vai um pouco além do que costuma planejar, Olavo não acredita na permanência de suas obras ou num legado. “Não boto muita fé nisso. Não sou uma pessoa nostálgica. Mas poder trombar com essas coisas [a arte] nesse tempinho e ter uma epifaniazinha, uma iluminaçãozinha, é uma sorte”, diz, com brilho nos olhos. Vale a pena aproveitar enquanto houver tempo, caro leitor. Dê play no disco abaixo e mergulhe nessa longa conversa agradável.
Marcelo: (A cidade de) São Roque é muito longe?
Olavo: Dá uma hora e pouco, pegando a [rodovia] Castelo Branco. Mas é a Castelo: pode ser uma hora, é tranquilo para ir, mas para voltar no domingão… pode ser até mais. Fato é que foi longe o bastante para que, em 2014, o Umberto saísse da banda quando foi morar em São Roque. Era “longe” (faz o sinal de aspas com as mãos).
Marcelo: Mas ele tinha virado pai também, não tinha?
Olavo: É por isso que estou falando que tem umas “aspinhas” nesse longe. Havia toda uma situação que provocou essa distância. A vida anda e a gente queria continuar com a banda, como continuamos…
Bruno: “Longe demais é um lugar que a gente vai pelo prazer de se arrepender” (frase da canção “Última Palavra”, presente no álbum “les tics”, de 2007)
Olavo: (risos) Essa é das antigas, né? Mas a verdade é que o Umberto precisava viver todo um processo lá em São Roque. Foi algo que fez tanto sentido para ele a ponto de que ele continua morando lá. E a gente precisava continuar com a banda. Quando o Umbinha saiu, depois do “História Universal do Esquecimento” (2012), ficamos eu, o Patu e o Xuxa [Marcos ‘Xuxa’ Muela, baterista]. A verdade é que eu tenho dificuldade de me localizar no tempo e os discos do Lestics me ajudam a saber o que aconteceu quando na minha vida (risos). Aí fizemos o “Seis” (2014), que é um disco de uma cozinha [baixo e bateria] e um vocalista. Quem tocou a guitarra foi o Digo [Rodrigo Pedrosa], um cara muito gente boa, mas ele não era exatamente da banda. O Patu fez as músicas no violão e a gente ensaiava com violão, bateria e voz, até chegar num ponto que tinha tudo estruturado. O Patu toca baixo muito bem, mas ele não é guitarrista. Aí chamamos o Digo para gravar os violões e guitarras. E claro, chamamos uma galera: tem as cordas do Neymar Dias, tem o Bocato. Depois, a banda é muito híbrida.
Marcelo: Vamos voltar no tempo. Com certeza já falamos disso em outras entrevistas, mas é bom atualizar porque tem leitores novos chegando sempre. O Lestics nasceu com você e com o Umberto. Quando ele saiu, você chegou a pensar em acabar com tudo?
Olavo: Não. Pensei “deu” várias vezes, mas antes disso. [Ter uma banda, gravar discos] é muito cansativo, é muito desgastante, mas é bom pra burro. Nós continuamos porque é tão bom, que acaba sendo melhor do que os perrengues que a gente passa. Você põe na balança e o lado legal é mais legal do que o perrengue – mas é muito perrengue. Na época do “Aos Abutres” (2010), nós fizemos um doc sobre o Lestics. Olho para as minhas imagens no documentário e parece que eu tinha tomado uma sova, cara. Eu estava amando o processo, mas estava muito cansado. Sempre dá vontade de parar e a gente nunca para, porque é bom fazer música. Quando o Umberto saiu, não consideramos essa possibilidade. Não sabíamos como ia continuar, mas não vimos a possibilidade de parar. Banda independente é foda, a recompensa é muito pouca. Você não consegue ter ritmo de estar sempre no palco, o nosso público é muito pequeno, e é um fenômeno que nós já discutimos. Por que tão pouca gente? Não sei, nunca vou saber, mas é pouca repercussão… mas a pouca repercussão para mim é do caralho. Assim como você mandava o fanzine antigamente pra uma galera que você curtia, mando os discos do Lestics pra galera que curto e respeito e que eu queria que curtisse também. Quando você escreve a respeito do disco, é do caralho: “saiu uma resenha massa num site que eu leio e que respeito”. Foda-se que tem meia dúzia de pessoas ouvindo, porque é uma meia dúzia que respeito, numa espécie de irmandade especial pela música. Se o Maurício Valladares toca… cara, eu ouço o “Ronca Ronca”. Eu aprendo ouvindo o “Ronca Ronca”. Eu lia o Fernando Rosa sempre. Então é assim: não podendo ter tudo, que é ter um público grande, eu tenho um pouco, que são pessoas que eu respeito curtindo o que eu faço. Pô, eu consegui fazer música com o Thomas Pappon ou com o Rubinho Troll, que são caras que respeito pra caralho. A música me permitiu isso, me colocou perto dessas pessoas. Então é uma das recompensas importantes, mas não é a recompensa. A recompensa, na real, é fazer. A música não existe e, de repente, ela existe: isso é de longe a coisa mais do caralho.
Marcelo: No texto de divulgação do “Bolero #9”, você diz que pensava numa coisa para o disco e que ele terminou indo para outro caminho. O que você pensava sobre o “Bolero #9”?
Olavo: O que eu pensava…
Bruno: (interrompe) Vou interromper só adicionando uma coisa: de toda a obra do Lestics, o maior intervalo é o do “Breu” para o “Bolero #9”. Claro que no meio disso tem a pandemia, mas é legal pensar: o que você pensava quando acabou o “Breu” e quando foi começar o “Bolero”?
Olavo: É. Na real, Bruno, são duas respostas diferentes para cada pergunta. A primeira resposta, para a pergunta do Marcelo, é bem mais singela. Eu esperava um disco ainda mais minimalista do que ele acabou saindo – e ele saiu bem minimalista, bem lo-fi, bem básico.
Marcelo: Isso não é algo que vem da sua experiência com a Dolores Fantasma?
Olavo: Não é. Sabe o que é? O “Bolero #9” tem algumas músicas do Patu e outras do Umberto. Quando a gente começou a arranjar, usamos um violão de nylon – que também usamos para gravar. Uma parte importante das músicas no disco tem uma coisa muito confessional, até mais do que costumo colocar. A coisa do violão de nylon, com a voz, com os arranjos de baixo que o Patu fez… eu queria ter uma singeleza, uma simplicidade. As composições talvez não sejam tão simples, mas eu queria uma simplicidade na entrega, na reprodução. No fim das contas, a base do disco é violão, baixo e voz. Depois o Umbinha começou a colocar as coisas dele, que são lindas, e que acabaram ficando. Ele tem uma sensibilidade de colocar temperos no arranjo, mas dessa vez ele não botou muito. O disco ficou sim, singelo e minimalista, mas era em função de estar gravando lo-fi, na casa do Umberto, sem grandes microfones ou equipamentos, sem muita infraestrutura, de uma forma muito simples. Mal comparando, eu queria ter algo como aquela galera gravando blues antigamente, chegando com o microfone na frente do artista e tal. Muito numa linha “é isso que temos para o momento”.
Marcelo: É que isso é meio impossível. Não sei o que o Bruno acha, mas não vejo esse lo-fi. Acho um disco muito bem acabado. A captação pode parecer lo-fi se você comparar com o “Seis”, que foi gravado em estúdio, e talvez você tenha esse ouvido. Como ouvinte, não acho lo-fi.
Bruno: Acho um disco econômico. É um disco de poucos elementos – o que é um contraste enorme quando você pensa justamente no “Seis”, que já abre com os metais do Bocato. Parece que a intenção é um diálogo ao pé do ouvido. É como encontrar uma turma de amigos e, num determinado momento, você chama um deles pra fumar um cigarro na porta.
Olavo: Obrigado por essa definição. Acho do caralho. É exatamente isso (respira). Vamos falar da pandemia, vai. Antes da pandemia, o Caio [Monfort, guitarrista e violonista] decide sair da banda, em mais um dos movimentos incontáveis de entra-e-sai da banda. E todo mundo saiu muito na boa. São processos que se encerram. O Caio é um queridaço, mas ele entendeu que tinha acabado o ciclo dele. Ali ficamos meio perdidos, batendo cabeça… experimentamos algumas coisas, mas não definimos exatamente pra onde a gente ia e vem a pandemia. Nessa época, quem estava na banda era eu, o Patu e o Pepê [Sylvio Martins], que gravou a bateria do “Breu” com a gente. Nessa época, o Pepê também vai fazer outros rolês, a coisa dá uma desorganizada e aí vem a pandemia. Nesse meio do caminho, eu tinha escrito duas letras novas, que não eram remanescentes do período anterior: “Cicatriz” e “Correnteza”. A primeira nós lançamos como um single em 2021. Era uma música sobre música, justamente uma música sobre parar de tocar. “Eu quero uma saída, mas não posso responder / seria ainda vida a vida que eu levasse sem você?”. Era uma dor declarada sobre esse assunto. E tinha “Correnteza”, que era sobre a pandemia: “afundando e ressurgindo mais adiante / respirando sempre menos que o bastante”. Meu pai ficou meses numa UTI entubado. Mas eu não conseguia gravar a música por causa do meu velho. Não consegui gravar naquela época. O barco precisou andar para eu poder avançar… tempos depois, eu terminei a letra, porque a letra não tinha refrão, não tinha o “que não tá em chamas / tá debaixo d’água”.
Bruno: Quando veio essa parte?
Olavo: Veio um pouco em seguida.
Bruno: É muito doido isso. Na minha primeira audição, saquei de cara que era uma música sobre 2024. Era sobre um Brasil que estava debaixo d’água – o Rio Grande do Sul – ou está pegando fogo.
Marcelo: É super premonitório.
Bruno: Foi engraçado, porque quando o disco chegou, fui ouvir e não consegui nem avançar muito, porque fiquei preso nesse verso.
Olavo: Pois é, mas isso é de antes. É de quando a gente começou a trabalhar o disco de novo com o Umberto. Deve ser em 2022, no final de 2022. Mas cara, essa letra está configurada. Ainda vamos viver isso ainda incontáveis vezes. Uma vez, eu estava indo para Uberlândia sem saber se ia encontrar meu pai vivo, quando ele estava internado. Passando ali por Ribeirão Preto, tenho uma foto apocalíptica. Era só fumaça, cara. Não dava para ver o Sol às 3 da tarde, era só uma bolinha vermelha em meio a um monte de fumaça. Serviu para 2020, servia para antes, serve para agora. “No coração das trevas não existe trégua” é exatamente por isso: “não vai ter boa”. Não estamos fazendo nenhum movimento relevante para ter boa daqui para frente. (risos nervosos).

Marcelo: Nesse sentido, acho o “Breu” um disco pré-pandêmico bem mais afundado. Ainda que o “Bolero #9” seja um retrato de pandemia, ele talvez não seja tão denso quanto o “Breu”.
Olavo: Sim. Tenho um jeito de escrever que tem isso aí. Eu gosto de contrapor [esse pessimismo] com algum senso de humor. Gosto que tenha uma graça, isso é sinal de vida – e é mais exato com relação à nossa experiência de viver. Preferencialmente, a gente chora e a gente ri. Eu também escrevia quadrinhos, não sou uma pessoa que não gosta de dar risada. Na verdade, gosto de acreditar que tenho um bom senso de humor e gosto de fazer palhaçada. Na minha escrita para a música, às vezes consigo trazer isso de um jeito mais legal, mas às vezes, como no “Breu”, é um senso de humor muito peculiar – como na “Balada do Fundo do Bar”, aquela coisa do “você só reza pro cenário melhorar / eu só torço para que o gelo não acabe”. O “Breu” é mesmo um disco mais sombrio. No “Bolero #9”, eu soltei mais a mão: tem o tango, né. “Elogio ao Desfibrilador” é uma palhaçada. Podia ser um quadrinho. Na verdade, escrevi sem saber pra onde aquela história ia. Fui escrevendo a letra sem fazer a menor ideia. Tá, ela quase morre no infarto, mas por quê? Fui indo, avançando, e quando achei o protético argentino, me diverti. Ou “Desculpe Qualquer Coisa”, que eu chamo de “Buster Keaton Song”. “Sair correndo atrás do trem, desce a corda pela janela”, aquilo é um filme mudo.
Bruno: Quando a gente está no breu, o próximo passo é o olho se acostumar e enxergar luz em alguma coisa, por mais escuro que seja.
Olavo: Acho que sim. Na verdade, trato de alguns temas que são razoavelmente superficiais. Tem uma letra da Dolores Fantasma que acho super exata: “se você ainda quiser se aventurar nesse mergulho / aceite que vai ser pouco profundo e muito escuro”. Não acho que eu faça letras com profundidade. Não ambiciono isso. Mas quando você olha pro escuro, não dá pra saber quão profundo aquilo é. Saca? Às vezes, é uma tapeação: minhas letras dão impressão de ter mais profundidade do que elas têm, porque elas lidam com coisas que são ruins, que têm uma escuridão. Não tenho problema em lidar com o lado escuro das coisas. É uma parte importante da vida. O breu é importante, mas não há só breu – e acho que o “Bolero #9” tem bastante luz. Sempre faço música para a Dea [Andrea Tedesco, atriz e esposa de Olavo]. “Você me faz sorrir / me tira para dançar / me obriga a ser feliz / quando tudo que eu queria era sofrer sem me cansar”, de “A Dança”, é a Dea. É um fato da vida: às vezes eu tô meio ali, ela literalmente me tira para dançar, acho mó bom, e é luz. E isso vira música. Mas gosto mais quando a gente consegue ter essa dualidade mais evidente. Não acho legal a coisa sombria, sombria e só sombria, sabe?
Marcelo: É aquela piada que abre o “Annie Hall”: tem duas velhinhas falando da comida. Uma reclama que é ruim, a outra fala que é minúscula. Ou seja, a vida é uma merda, mas o problema é que ela passa rápido demais. Essa coisa absurda de acordar todo dia é um desafio quase eterno. O Nick Cave tem o filme dele, “20 mil dias sobre a terra”. É dia pra cacete…
Olavo: O Nick Cave é um cara que tem o senso de humor dele também. Os caras que eu mais admiro têm isso: eles têm uma sombra importante, mas têm uma graça, nem que seja muito particular. Os escritores, os cineastas, os músicos que gosto mais, eles têm um olhar para a sombra, mas no mínimo eles tiram uma onda disso. Obviamente, você faz o que você dá conta. São afinidades eletivas: tem as referências, os artistas que você gosta. Não é se comparar com ninguém, mas é afinidade. Pedalo no que faço para, de algum jeito, tentar chegar perto do que esses caras fazem, ter essa complexidade. É uma riqueza de possibilidades: não é sobre profundidade, mas é sobre riqueza de possibilidades.
Bruno: Como é que o Umberto volta para a banda?
Olavo: O Umbinha voltou porque a gente andou se cruzando e porque a gente nunca se afastou. Nós nos falamos menos com os anos, mas sempre estivemos em contato.
Marcelo: Você o conhece desde quando?
Olavo: Desde 1995, por aí. O Gianoukas faz 30 anos esse ano. Nós demoramos muito para gravar o primeiro EP oficial, mas já tínhamos umas fitas, umas coisas assim, e fazíamos muito show, tocávamos muito ao vivo. O Gianoukas começou, daí a pouco o Umbinha era conhecido de adolescência do Luiz [Miranda, guitarrista], e ele veio pro Gianoukas em 1995 ou 1996. Não tenho bem essa timeline.
Bruno: Não tem disco pra saber a linha do tempo…
Olavo: Tem que procurar nas fitas! Mas a gente se conhece desde então e tinha muita afinidade musical. O Gianoukas andou, andou, e nós resolvemos fazer um primeiro disco juntos, que a gente nem sabia que era Lestics. Chamamos os caras do Gianoukas para fazer, mas a banda estava meio dispersa na época e o Lestics virou Lestics porque o Gianoukas estava disperso. Fizemos os discos juntos, ele foi embora, mas um dia a gente se encontrou, já depois da pandemia. Cheguei até a falar para o Patu: “cara, eu tô tendo umas conversas com o Umberto e tô achando que ele está querendo colar de novo. Vou dar uma tacada para ver se ele encara”. Quis ir meio light, mas quis tentar. Tanto o Patu quanto o Umberto têm filhos pequenos. É difícil ter tempo para poder parar, fazer um disco, arranjar, dá mó trampo. É aquilo: você trabalha, se tem tempo de folga com filho pequeno, é difícil disponibilizar tempo para isso. “Não, Umbinha, vamos light, no seu tempo”, falei. Ele olhou meio torto pra mim, jurei que não ia ficar apertando ele. Decidimos ir na boa, e o disco demorou pra ser gravado. Começamos o processo no começo de 2023 e fiquei me segurando para não apavorar. Na verdade, o processo foi longo, mas o disco foi gravado rápido.
Marcelo: Demora no seu mundo, né, porque na escala “Chinese Democracy” é rápido (risos).
Bruno: Pô, mas são seis anos entre o “Breu” e o “Bolero #9”.
Marcelo: Mas quando você começa o processo, um ano…
Olavo: Um ano e meio não é tanto, na real. Nós fazíamos as coisas rápido: era chegar lá em São Roque, tocar e chutar pro gol. É isso, sabe? Poucas coisas ficaram sendo redesenhadas, mas basicamente a gente chegava, fazia e boa. É um disco que foi gravado razoavelmente rápido. As horas dedicadas para isso não foram muitas, dentro do período de um ano e meio que ele levou. Mas sim, havia esse gap grande de seis anos entre um disco e outro, que, felizmente para mim, foi intercalado com dois discos da Dolores Fantasma, em que eu pude colocar energia para fazer outras coisas.
Marcelo: “Elogio ao Desfibrilador” é um tango. O disco tem bolero no nome. É um nítido álbum de influência argentina. De onde vem isso? Quadrinhos, cinema, música…
Bruno: …você foi pra Buenos Aires?
Olavo: Cara, até fui pra Buenos Aires, mas o disco já estava sendo feito (risos). O protético argentino é de antes da viagem, por exemplo. A verdade é que manjo pouco de música argentina, de música latina. Algumas coisas eu gosto bastante, mas não sou um conhecedor. Sempre fico pagando pau porque acho importante: tem coisas legais rolando que eu acompanho via Scream & Yell e acompanhava via Fernando Rosa, mas fui pouco capturado por esses sons. Tem lá uns Los Tres da vida…

Bruno: É engraçado porque, no Programa de Indie, tocamos “Cicatriz” dobrando com “Viernes 3AM”, do Charly García.
Olavo: Então, Charly García eu ouvi pouco, mas não manjo, Soda Stereo conheço pouco, uns Café Tacvba da vida, ouvi o Los Fabulosos Cadillacs, mas não manjo. E é engraçado que cinema argentino também não manjo. Conheço só as coisas que chegam para absolutamente todo mundo, apesar de amar cinema e saber que tem uma produção interessante lá. O lance do bolero, do tango, na real, é porque acho divertidíssimo. Adoro tango, não manjo muito, ouço as coisas mais óbvias, mas a coisa que mais me interessava era a música velha. O tango como música velha, o bolero meio lounge music, o meu interesse ali era lidar com “formas ultrapassadas”, que não são mais mainstream. Ainda tem gente fazendo tango, assim como tem gente fazendo rock, mas são linguagens musicais que já tiveram seu auge e passaram. Tem um negócio que acho legal de explorar nessa recuperação e nessa provocação de que o rock também é um bolero. Já foi o tempo do rock. A matriz do que a gente faz basicamente é rock, se precisar dar um nome para a coisa. É um som que o auge já passou faz um tempo, não é um som que está rolando. Então por que não meter um tango na história, brincando com essa falta de validade do som que a gente está fazendo? Não sei se estou falando bosta, inventei agora a explicação.
Bruno: Eu gosto da provocação.
Marcelo: Nem acho que é provocação, por mais que possa ter surgido como provocação. Passei o dia todo pensando nisso. Participei de um debate esses tempos sobre a nova música brasileira. O que raios é a nova música brasileira? Talvez não exista nada mais novo. E aí lembrei de uma conversa com o Rômulo Fróes, que diz que quando ele lança um disco hoje, ele não compete só com quem está lançando disco no mesmo dia, mas com Batatinha, com Pixinguinha… Quem vai ouvir o Rômulo não tem só aquele disco pra ouvir, tem o mundo. Paralelamente a tudo isso, tem gente que não conhece Elis Regina, provavelmente. E a gente pode até duvidar, mas o cara do Interpol fala que nunca tinha ouvido Joy Division antes de ter a banda.
Olavo: Acredita quem quer. (risos).
Marcelo: Naquela época, eu achava difícil. Hoje, acho totalmente plausível alguém falar que não conhece Beatles.
Olavo: Super.
Marcelo: Mas paralelamente, eu vejo isso no jornalismo dos anos 1980 ou 1990, que parecia que a eletrônica era o próximo passo. Quando chega o sampler e as baterias eletrônicas, os discos acabam ficando datados, todo mundo fez merda naquela época, mas para a crítica era o próximo passo. E aí a gente chega no ápice com o pessoal do final dos anos 1990, começo dos 2000, Flaming Lips, Mercury Rev, Spiritualized, Radiohead. É claro que existe o novo de gente que está compondo agora, mas é até injusto olhar para um garoto e falar que ele está no país de Tom Jobim, João Gilberto, Caetano, Chico, Renato Russo. Quando você fala que olha para estilos velhos, eu acho interessante porque é difícil pensar em fazer um estilo novo.
Olavo: É porque não tem novo e não tem velho. Chegamos num certo lugar em que é preciso mudar um pouco o paradigma. É um lugar em que não só não tem novo, como não tem velho: tudo soa contemporâneo. Se você vai ouvir Charlie Patton – e eu ainda vou fazer um disco soando que nem Charlie Patton, que é essa tosqueira que a gente fala –, é novo o suficiente. A coisa ficou meio chapada. Essa hiper disponibilidade e esse hiper acesso à informação equalizou tudo. Não é que tudo se equivale, mas a percepção do que é velho ou novo foi pras cucuias. Quanto tempo faz que a gente ouve bandas novas fazendo pós-punk? Pô, vai ouvir Mission of Burma e soa igual. Posso ouvir o Fontaines DC ou ouvir o Mission of Burma. As possibilidades de escape – que é de música não pop – também soam novas pra caralho. Adoro o programa do José Júlio do Espírito Santo (NTRFRNZ): ali sempre tem coisa boa pra caralho rolando, sempre muito pouco convencional, mas não soam novas. Não é defeito de fabricação: é que não dá mais para soar novo. É um papo de gente velha. Não estou interessado nas coisas velhas, estou interessado nas coisas contemporâneas, mas preciso admitir isso. Estou adorando o disco do English Teacher, que é uma gracinha. Mas ele soa antigo! E tudo bem! Esse desafio é uma mudança de paradigma para quem faz, para quem ouve e para quem pensa ou escreve a respeito. A ideia de que precisa do novo, é uma ideia de progresso, que a gente comprou em algum momento. É um paradigma que a gente comprou e ficou com uma mercadoria na mão tentando saber o que fazer. É algo que não serve mais pra mim, pelo menos. Herdamos uma série de noções que não fazem sentido mais e tentar atochar essas peças num mundo em que elas não funcionam mais não adianta. Sou mais alguém que ouve do que faz música. Quando não estou escrevendo, estou ouvindo música, coisas novas e coisas velhas, passando por peneiras e criando meus desafios. Ando ouvindo muito a Julia Holter, que oferece algum desafio para a audição. Crescemos na mesma época, Marcelo, querendo ouvir a próxima coisa nova, algo que vai nos dar uma rasteira. Fomos mais ou menos bem enganados até um ponto em que a produção musical ficou superabundante – que sempre existiu, mas a gente não tinha acesso. Na verdade, os meios de produção de música se democratizaram muito, então o volume aumentou muito, mas a gente já não conseguia ouvir tudo que existia em 1980, 1985, 1990. Tinha muita coisa sendo feita. Nós tínhamos impressão que a gente sacava tudo, mas não sacávamos porra nenhuma, só uma fração ridícula. Era uma bolha. Agora a gente caiu na real. Gosto de me relacionar com o que é feito no meu tempo, claro. Mas como alguém que compõe, perder esse paradigma é libertador: nenhuma banda minha tentou ser inovadora ou estabelecer uma linguagem. Sempre quisemos ter identidade. Acredito que conseguimos isso tanto com o Gianoukas, quanto com o Lestics e com a Dolores Fantasma. Não é novo, mas não é genérico. Não queremos ser genéricos, nem ser banais. Não precisa ser profundo, mas não precisa ser banal. Em algum lugar, lá no fundo, um bichinho que foi inoculado em mim quando eu era moleque, sempre me diz: “foda mesmo é quem faz um negócio muito novo”. (risos). E obviamente tem um Jorge Ben, tem um João Gilberto, tem um Chico Science… e não sou nenhum Jorge Ben, mas dou minhas cacetadas com a minha identidade. Nunca fizemos música tentando soar assim ou assado, nos parametrando. Talvez individualmente, quando o Patu faz um baixo ou quando faço uma melodia vocal, você pode ter uma referência, mas a gente não tenta fazer isso junto. E quando junta, a coisa bagunça e vira uma coisa com identidade.
Marcelo: Mas há um molde. E quando falo de molde, falo dessa ideia que o disco soasse velho.
Olavo: E aí ele soa diferente, mas você sai de um lugar e vai andando até chegar em outro lugar. Se der tudo certo, a gente gosta também desse outro lugar. No “Bolero #9”, eu queria muito isso que vocês falaram: “cola aqui”, o jeito de cantar, falando coisas muito ruins, muito ruins, mas com uma doçura, imprimindo alguma beleza naquele horror. Beleza mesmo, vamos usar essa palavra. “Correnteza” é um horror, mas eu queria cantar. É como contar um negócio muito ruim, mas eu vou cantar docemente pra você. (respira fundo)
Bruno: É falar “coisas belas e etéreas”.
Olavo: É. “Correnteza” é uma música que eu ligo muito com o meu pai. Perdi o meu velho faz pouco mais de um ano. É um baque. É muito foda, muito doído. Durante a pandemia eu viajei algumas vezes para Uberlândia sem saber se eu ia chegar lá e meu pai ia estar vivo. Eu viajava, chorando, sozinho, e achava que aquilo era uma ante-sala dessa perda. Que, de algum jeito, eu tinha me avizinhado da morte dele. Mas quando meu pai foi embora, eu não sabia, eu não tinha ideia, não tinha noção. Acho que é um fato da vida, tudo certo, e eu gosto de lembrar dele, gosto de sonhar e chorar pensando nele. Acho que ele ia achar OK, faz parte da vida essa dor, esse luto. Não dá pra gente se poupar disso, nem se resguardar. Não faz sentido. Racionalmente e não racionalmente, procuro lidar com essa lógica de que é algo da vida. E de entender a sorte de ter um ciclo assim: alguém nasceu, passou por perrengues, encontrou pessoas, viveu com as pessoas. Ainda me incomoda um pouco o fato dele ter morrido com sequelas da covid-19. E tem um lance importante aqui: nós falamos muito na época, parece que o tema saturou um pouco e o barco andou, mas não dá para tratar a pandemia de maneira leviana.
Marcelo: De maneira alguma.
Olavo: Tem uma questão política importante pra caralho vinculada ao que aconteceu no País durante esse período, que precisa sempre ser endereçada, sempre ser lembrada. Nós pagamos os preços de termos um governo negacionista, criminosamente negacionista, e continuamos pagando esses preços psicológicos, estruturais para o país, importantes. Mas às vezes parece que “beleza, passou”. Passou o caralho. Ainda vamos pagar um preço disso por muito tempo.
Marcelo: A minha história com o meu pai é o inverso da sua. Quando meu pai falou que ia votar no Bolsonaro, eu o bloqueei. Já não tínhamos uma relação próxima, uma centena de traumas, mas havia amor – e há. Não sigo ele, mas de vez em quando ele comenta alguma coisa. Na época, falei que ele estava colocando a minha vida em risco. Sou pai com filho pequeno, não sei o que esse cara [Bolsonaro] ia fazer no governo. Ele podia querer me matar.
Olavo: Essa também é uma questão que precisa voltar para a pauta. Tinha uma galera que “estava na fila” para tomar tiro.
Marcelo: Tem a história de que o Bolsonaro falou que para o Brasil ter dado certo, “tinha que ter matado 30 mil”. É uma fala dele mesmo. E o Antônio Prata escreveu: “Se fosse 3 mil, 5 mil, talvez não chegasse em mim. Mas 30 mil? Como eu não ia estar no paredão?” Dessa forma, quem votou no Bolsonaro colocou o meu na reta. É inaceitável para mim. E vindo do meu pai, sobretudo: não aceito colocar a minha vida ou a vida do meu filho em risco.
Olavo: E como é que a gente faz com esse nó?
Marcelo: Acho indissociável. Meu primeiro trabalho foi numa biblioteca de Direito, em 1992. Todas as discussões sobre os problemas do Brasil que rolavam lá terminavam em educação. Esse país só vai para a frente quando as pessoas tiverem acesso à educação de uma maneira real.
Olavo: Essa é a sua utopia. A gente precisa de alguma utopia. E a utopia da educação é uma boa utopia. Embora se precise entender qual é a educação.
Bruno: É engraçado você falar isso. Recentemente eu entrevistei uma especialista em educação, e fizemos um balanço dos últimos 30 anos. Ela passou mais de meia hora falando mal da educação. Mas no final, ela lembra que nos anos 1990 era muito pior. E eu vejo isso na família: minha mãe dá aula em escola particular e só reclama. O clima na sala de aula piorou, a permissividade dos alunos. Mas existem conquistas nesses 30 anos – do Plano Real, de tudo que o Lula fez. A educação também melhorou. Mas quando a gente pensa no futuro, parece que não funciona bem assim
Olavo: Chegamos nesse lugar. Qual é a educação que a gente quer? Há uma crise de paradigmas na educação. É preciso entrar em crise do que se entende como educação, para, utopicamente, andar para frente. A educação como a gente conhece e entende é estruturada de uma forma que vai fazer cada vez menos sentido. As habilidades, os valores que estão na estrutura da educação são valores ultrapassados, que precisam ser substituídos, o conteúdo precisa ser reavaliado. Eu super concordo com você: sem educação, não vai. Mas qual educação? Essa que está aí não vai rolar.
Bruno: Hoje você mudaria o verso de “Shakespeare e os gregos já disseram tudo antes?” (frase da canção “Gênio”).
Olavo: (risos). Super mudaria.
Bruno: A música não é sobre isso, né.
Olavo: Mas a piada é ótima! É um clichezão, mas vou lançar mesmo assim: aprender é aprender sobre a vastidão da sua ignorância. Admiro quem quer dar o próximo passo e aprender um pouco mais, mesmo conformado que a ignorância não é ultrapassável e que a gente vai morrer sem saber porra nenhuma. A questão é que, no processo, você se diverte e se tudo der certo, você se torna alguém um pouco menos tosco. Além de ter a oportunidade de perceber como a gente vive aprisionado em fórmulas, em amarras, em modelos. “Ah, mas o que acontece se eu sair do modelo?”. Não sei, mas deixa eu pensar para além desse modelo tão pré-fabricado que a gente aceita confortavelmente. Às vezes a gente passa muita vergonha, fala muita bosta, critica o outro na ignorância. Às vezes alguém pode falar um clichê, mas é um clichê que tem a ver. Shakespeare e os gregos disseram coisas excelentes (risos), muito mais do que eu poderia ambicionar falar… mas a coisa vai muito além. É legal tentar, de novo, dentro da nossa inescapável ignorância, tentar ser um pouco menos tosco. Faz bem.
Marcelo: Quando a gente estava falando de todos os desastres cotidianos, lembrei que abro todos os meus textos sobre Michael Haneke falando que se o mundo fosse perfeito, não existiria Haneke. Por outro lado, ele só existe porque o mundo é essa merda – e Haneke vai existir durante muito tempo porque estamos cada vez mais longe da chance de melhorar. Dito isso: quantos discos o Lestics tem pela frente?
Olavo: Eu tinha uma marca que em algum momento eu quis chegar. Tenho muita dificuldade com questões místicas, tendo a ser mais materialista, pouco místico, também diante da aceitação de que o transcendente é transcendente demais. Mas tem uma coisa que acho muito divertida, que são os números. Uma das grandes ignorâncias que eu tenho é sobre Matemática – essa linguagem que a gente descobriu, que parece exterior à gente, que opera alheia à lógica humana. Onde a gente capturou essa possibilidade de organizar e comunicar determinados valores? A Matemática é um negócio interessantíssimo e acho divertido brincar com a ideia de números. Tenho o 13 como um número muito divertido. 13 é um dia que eu gosto muito. Fiquei com a Dea num 13 de agosto – é a data mais improvável do mundo, né? E eu queria chegar no 13º disco, que foi o “DF2”, da Dolores Fantasma. Em algum momento, olhei e pensei: “pô, cara, acho que eu podia parar de fazer disco agora, podia largar mão de fazer esta merda”.
Bruno: É engraçado você falar isso, porque eu lembro dessa conversa, mas de um jeito mais pessimista. Durante a pandemia, no Twitter, lembro que você falava que dava tanto trabalho fazer disco que não ia fazer mais – e eu respondia enchendo o saco pra fazer, claro.
Olavo: É sofrido, dá trabalho pra caralho, mas é gostoso. E acabei fazendo mais discos: tem o “Bolero #9” e também um disco pendurado do Gianoukas Papoulas que quero fazer. Não quero mais fazer, mas provavelmente ainda vou ficar fazendo disco. Na hora H, acabo fazendo. Eu não me programo. Se eu pudesse parar de fazer, parava – de verdade! Quando puder parar, vou parar, sem a menor dúvida. Até porque antes de ser alguém que faz música, sou alguém que ouve música. Gosto muito de ouvir música, gosto muito de ler, de ver filmes. Gosto muito de ir ao teatro. Tem coisas do caralho sendo feitas no teatro. Tenho a impressão que eu podia viver feliz só recebendo, “manda pra dentro”. Mas não consegui essa paz ainda.
Marcelo: Esses dias eu estava lendo o “Fé, Esperança e Carnificina”, do Nick Cave, e em determinado trecho ele diz que não queria mais compor. Ele reclama que nunca tem música pronta quando marca para gravar o disco, bate pânico, dá tremedeira. Ele até tem milhões de anotações, mas não tem nada. Mas, diz ele, que quando ele vê, a música estava ali e essa música trouxe mais umas quatro ou cinco… e aí surge um disco. Parece a coisa mais fácil do mundo, mas não é.
Olavo: É uma merda, mas é gostoso escrever.
Marcelo: Gosto de escrever. Mas não acho que seja necessário. Acho que tem gente muito melhor do que eu – mas se parasse agora, eu ia sentir falta, uns cinco ou seis iam sentir falta…
Olavo: Vai ter uma galera que vai sentir falta.
Marcelo: …mas vai passar uns três ou quatro meses e ninguém vai sentir mais falta.
Olavo: A questão é que não tem ninguém pedindo para eu fazer música.
Marcelo: A questão é que eu gosto de me ler (risos).
Olavo: É legal! (risos). Quem fala isso também é o Thomas Pappon. Ele uma vez escreveu no Facebook dizendo que faz disco porque gosta de ouvir os discos em casa. De alguma maneira, a ideia existiu em vários estágios. Mas fico pensando se o Nick Cave ouve os discos dele em casa, porque tem artista que ouve e artista que não ouve. Thomas Pappon é um que eu sei que ouve. O Scott Walker faz o oposto: “mal acabei de gravar, nunca mais quero ouvir isso na minha vida”.
Bruno: A Clarice Lispector tinha isso.
Olavo: O Woody Allen diz que não vê de novo os filmes que fez.
Marcelo: O Woody Allen (novamente) tem uma coisa pior, que é a questão do processo. Ele acha que o filme é a ideia, e tudo entre a ideia e o filme pronto tende a diminuir o brilho dessa ideia . Então se ele está selecionando o elenco e percebe que selecionou errado, ele acha que o filme já era. Ele até termina o filme, mas dá pra perceber que ele largou lá atrás. Tem uma entrevista do [Jean-Luc] Godard com ele, em que o Godard até argumenta: “na sala de edição você conserta tudo”. E o Woody diz que não: pra ele, o filme já está condenado…
Olavo: Quem é o cara da Nova Hollywood que entrou numa pira que resolveria tudo na edição? Era o [Peter] Bogdanovich? Ele entrou numa viagem dessa… e aí bateu uma certa arrogância.
Bruno: Deve ser o Bogdanovich ou o Hal Ashby, que também era maluco da edição.
Olavo: E aí tem uma hora que cai a casa total!
Marcelo: O Coppola fez vários assim! O Coppola deu muita sorte.
Olavo: Não existe sorte, vai.
Marcelo: “Apocalypse Now” é um puta acaso. Aquilo tudo não deveria existir. Na cabeça dele deveria ser algo maior, mas ele juntou o que tinha e ficou espetacular.
Bruno: Tem o documentário da Eleanor Coppola, “Hearts of Darkness”, que é maravilhoso. Todo mundo enlouqueceu ali, mas ela filma os bastidores de como o filme é feito – e é lindo de tão caótico.
Olavo: Todo mundo completamente alucinado.
Marcelo: Não tinha como dar certo, mas deu. É muito surreal. Essa coisa do processo é muito maluca. Numa gestão pequena, como você, Patu e Umbinha, a coisa já foge do controle.
Olavo: Mas você tem uma confiança nas outras pessoas. Você sabe que de algum jeito vai chegar em algum lugar. E por falar em sorte, porque sem sorte você não atravessa nem a rua, tive muita sorte na verdade. Sorte é encontrar as pessoas. Às vezes, a gente acha que é assim (estala os dedos), que isso é normal, e você não dá o devido valor para esse fato de encontrar alguém. Não dá o devido valor para o fato de que alguém cruzou sua vida em determinado momento e caminhou dez metros, um quilômetro, uma vida juntos. Aconteceu muito pouco uma “perturbação na força” na minha história com música. Aconteceu raramente que alguma coisa não fluísse. Você até leva um susto de que pode não rolar, né? Pode acontecer de não dar certo, de não rolar. E tem gente que passa a vida tentando encontrar seus pares e não flui. Tem gente que não tem a sorte de achar os seus pares. Na real, a possibilidade de dar errado é maior. Por isso que eu falo de sorte. A gente não pode tratar com desdém essa sorte que você deu na vida de estar com as pessoas.

Marcelo: Nessa coisa de sorte… quando é que o Patu entra na sua história musical?
Olavo: Eu conhecia o Patu muito superficialmente porque ele chegou a tocar com o meu cunhado. Ele tinha uma banda, bem quando conheci a Dea, e sabia que ele tinha um gosto musical parecido, tinha uns discos parecidos. Isso é fundamental, né? Isso é 2000 e pouco, eu estava só no Gianoukas. Aí veio o lance do Lestics, fizemos os dois primeiros discos – o “9 Sonhos” e o “Les Tics” – bizarramente rápido, sem ter banda. Só eu e o Umbinha num cubículo fazendo os discos. E aí você, Marcelo, tem uma participação importante nessa história: você publicou uma resenha muito legal sobre os dois discos do Lestics. E aquilo, de algum jeito, foi um detonador para outras pessoas, outros jornalistas, se ligarem no que a gente estava fazendo.
Bruno: Eu sou um deles – e eu nem era jornalista na época!
Olavo: E foi muito importante pra gente aquilo. A banda era uma “brincadeira”. Não era brincadeira, era o som, mas não esperávamos transformar aquilo numa banda de verdade, com gente tocando junto. Quando você gerou atenção com aquela resenha, achamos que tinha um negócio ali. E aí decidimos fazer uns shows – mas não dava pra ir para o palco só com violão e voz, percebemos que precisávamos trazer gente. Muito rapidamente lembrei do Patu. Era um cara com quem eu tinha pouca relação, falava um alô de vez em nunca, mas sabia que tinha uma afinidade. E resolvi chamar esse cara que toca baixo e gosta de uns sons. Ele veio em 2008, logo depois que a gente gravou os dois discos, pra gente fazer uns shows. Chamamos um baterista, depois chamamos o Lirinha pra tocar guitarra, e aí se estabelece a primeira formação do Lestics como banda. E a gente toca junto desde então.
Marcelo: Sorte. A banda mudou, mas vocês dois formaram um núcleo, que eu não sei se seria a mesma coisa se fosse você sozinho.
Olavo: Não seria. A gente se apoia muito. Teve uma época em que pensei em parar. E ele: “Não, Olavinho, vem cá, respira. Não vai parar não, cola aqui, vamos fazer mais um disco”. Aí ele me traz de volta, chegou a rolar esse papo, exatamente assim. Talvez tenha sido antes do “Breu”. Acho massa que, de algum jeito, a música acaba sendo para algumas pessoas um subterfúgio pra gente se ver. Tem uma certa irmandade de alma que é mediada pela música, até com pessoas que eu toco.
Marcelo: Meu círculo de amizades é 99% formado por gente de música. As pessoas com quem converso o dia inteiro tem a ver com música. Cada um com gostos diferentes, mas é sempre música.
Bruno: Vou além: eu e o Marcelo temos facilidade de se ver porque vamos nos mesmos shows. Não é só que a gente é amigo e se encontra sempre, mas também porque somos amigos e vamos nos encontrar nos shows. Tem amigos tão importantes quanto, mas que não vão nos shows.
Olavo: É igual ao lance do Umbinha e do Patu. Temos um parafuso a menos. Nós nos gostamos demais, temos uma relação muito boa. Mas o disco que a gente fez? O disco dá a oportunidade da gente se encontrar. A música é o nosso terreno comum. A gente se entende e se fala pela música. É do caralho, cara. Deu mó trampo para fazer o disco porque o Umberto está lá em São Roque.
Bruno: O Scream & Yell é com certeza o meio que mais entrevistou o Lestics. Tem duas entrevistas minhas, mais uma do Mac na época do “Breu”. É muito engraçado reler essas entrevistas – que são do “Seis” e do “Esquecimento” – e eu bato muito na tecla do mercado, de tocar no Faustão…
Olavo: A gente quase termina essa entrevista sem falar disso, hein?
Bruno: É engraçado porque olhei para essas entrevistas… e na época não dava para saber, mas elas já deixavam muito claro uma relação que hoje muita gente tem com a música que faz. Naquela época, tinha uma geração pós-MTV que ainda acreditava em fazer dar certo, de largar emprego em Cuiabá ou Rio Branco para dar certo em São Paulo. Lembro que você tinha uma clareza muito grande que isso não ia acontecer com o Lestics. Hoje, mesmo quem ambiciona ter uma carreira no sentido mercadológico sabe que não vai largar o emprego. Lembro de insistir nas perguntas e até achar esquisito que vocês não iam tentar isso.
Marcelo: E paralelamente a isso, esse talvez tenha sido o segredo para vocês terem uma discografia enquanto várias dessas bandas acabaram e estão voltando hoje em dia. Pullovers, por exemplo.
Bruno: O Pullovers é uma banda contemporânea de vocês, mas tem um disco em português. Vocês têm nove.
Olavo: O Pullovers é muito massa. Mas não sei o quanto a galera ali decidiu “tentar” e, de alguma maneira, a coisa não virou. Provavelmente não aconteceu.
Marcelo: Acho que isso aconteceu com todas as bandas desse período. Estou falando do Pullovers, do Superguidis, que talvez seja o exemplo mais claro. Era uma banda altamente elogiada, mas que faz dois shows no Itaú Cultural meio vazios e descobre que não tem para onde ir. Tocando de graça na Paulista, em São Paulo, e não aparece ninguém.
Bruno: Naquele mês “enterrei” duas bandas. Uma foi a Superguidis e a outra foi o Hotel Avenida, num show que vocês [Lestics] dividiram com eles na Livraria da Esquina.
Marcelo: Tem uma porrada de bandas voltando agora, o Ecos Falsos, o Ludovic. O Ecos Falsos tinha um olhar para o mercado.
Bruno: O Ludovic nunca teve muito…
Olavo: Mas o Ludovic tinha uma possibilidade de nicho, né? Diferentemente do Ecos Falsos, do Hotel Avenida, do próprio Superguidis, o Ludovic tem uma determinada cena. Não sei se segura uma galera para viver de banda, mas seguraria para ter uma certa carreira. E é engraçado: eu curto muito o Jair Naves, mas a gente não se conhece bem. Uma vez encontrei ele e falei: “pô, mano, que do caralho, você é de Araguari”… e ele “é, pois é”. (risos).

Bruno: Mas você se dá bem com Uberlândia?
Olavo: Eu saí de Uberlândia com 21. Sabe o que acontece? Quando eu era adolescente, eu só queria sair fora. Eu gostava muito de São Paulo. E quando passou a adolescência mais adolescente, entrei na faculdade de Engenharia lá. Um pouco antes da faculdade, quando cheguei no terceiro colegial, conheci uma galera que gostava de música – e que gostava das coisas que eu gostava: R.E.M., Tom Waits, Public Enemy. O primeiro disco do R.E.M. que eu comprei foi o “Life’s Rich Pageant”. Lembro de ver numa revista de rock qualquer uma notinha que tinha duas bandas fodas soltando disco novo: Jason and the Scorchers (risos) e o R.E.M.. Saio em Uberlândia, chego numa loja furreca, cheio de disco sertanejo… e tinha os dois discos. O Jason and the Scorchers tinha uns covers de Stones. (risos). Comprei os dois. A história do Tom Waits é legal também, porque mostra o quanto dar a segunda chance é uma coisa fundamental quando você vai lidar com música. Cara, o quanto não ouvi o “Rain Dogs” até gostar e ele passar a ser o meu disco favorito da vida? Eu sabia que era bom, era moleque, tinha um repertório muito restrito, mas eu sabia que aquilo era bom. Eu ia na loja de discos, na Discolândia, e botava para ouvir. “Que merda é essa?”. Não tinha coragem de levar para casa. Aí voltava à loja, botava, e ficava sem coragem daquilo ser bom. Até que um dia comprei e ouvi esse disco doentiamente. Fiquei completamente louco pelo Tom Waits.
Marcelo: Era uma época que tinha que dar chance. Se você não gostasse do seu disco novo, não iria ter outro pelos próximos três meses.
Olavo: Você era obrigado a fazer isso funcionar. Mas bem: nessa época, eu conheci um cara que tinha um programa na rádio da Universidade [Federal de Uberlândia, a UFU], que ia para a gringa e trazia umas coisas. Um dia o cara chega lá para mim e tem o vinil do The La’s. Ele vai e me mostra, tem uma coisa meio pop, meio Beatles, meio Velvet. Ele gravou a fitinha e ouvi até destruir. A real é que achei uma galera em Uberlândia com a qual eu me relacionava, e depois entrei na Engenharia, e aí festa, eu estava achando a cidade ótima. Nada ruim mesmo. Mas acabei largando o curso e vim pra São Paulo fazer Comunicação.
Bruno: Voltando à clareza sobre o potencial de mercado do Lestics. Talvez por ter essa clareza, produzir música talvez seja algo intrínseco pra você.
Olavo: De novo: se eu puder escapar, escapo. Não sei se isso vai acontecer. Tenho vários planos de sair de São Paulo, de ter uma vida mais tranquila. E aí tem a balança: São Paulo é uma cidade muito massacrante, mas se você tem o privilégio de poder acessar um tanto do que a cidade devolve, com um espírito interessado em música, arte, de algum jeito, é difícil escapar da cidade. Isso também acontece por causa do círculo que você cria em torno de você: gente que você ama, que você não quer sair de perto. Mas o preço que a cidade cobra é muito alto, e por isso às vezes eu tenho vontade de sair. Sem ingratidão, sou grato para caralho de conseguir viver aqui.
Bruno: Mas você voltaria para Uberlândia?
Olavo: Nunca se pode dizer não porque é cuspir pra cima. Quem cospe pra cima, o cuspe cai na cara. Mas acho que Uberlândia resolve pouco meu problema. A cidade é grande. É praticamente sair pros mesmos problemas sem ter todo esse acesso às coisas que são importantes para mim – e longe das pessoas, da galera que a gente gosta. Se for pra sair daqui, tem que ser uma captura mais importante, ir para um lugar realmente no meio do mato, que deve ser uma experiência de vida massa. Mas não vejo isso num horizonte de vida próximo. Então, enquanto não saio de São Paulo, acho difícil parar de fazer música. Porque é uma das coisas que me seguram em pé com alguma saúde mental. Em algum momento da pandemia, achei que estava tudo tão diferente que achei que ia parar de fazer música. A Dea me olhou assim… (risos)
Bruno: Eu queria voltar na discussão de carreira do Lestics, na clareza que vocês têm sobre o processo. Para mim, essa clareza é o que vai fazer vocês gravarem discos até o final da vida, como o Mac vai escrever até o final da vida.
Marcelo: Para mim, o Pullovers poderia ter gravado mais discos, o Superguidis poderia ter gravado mais discos, mas havia um cenário que impulsionava as bandas a desejar mais – e esse desejo frustrado fez as bandas acabarem.
Olavo: “Ninguém deu em nada” (uma música do “Bolero #9”). Mas nessa música eu não estava falando dessa galera.
Bruno: Sei que não, mas esse é o título perfeito para um livro.
Marcelo: O “deu em nada” é uma coisa muito relativa.
Olavo: A música é sobre fazer as pazes com a história.
Marcelo: Essas bandas estão voltando porque não tem mais a ‘obrigação’ de ter que dar em algo. É diversão.
Olavo: Mas é normal ter uma curiosidade por aquilo que você não tem. Essa pessoa que parece super resolvida de várias entrevistas, na verdade, é uma pessoa mais ou menos resolvida. É óbvio. A questão é que leio o cenário e eu jogo com as cartas que eu tenho. É o que eu sempre fiz. Mas claro que penso como é que seria conseguir fazer um circuito de shows, tocar em tudo que é lugar.
Marcelo: Mas vocês fazem música pop. Você sabe disso.
Olavo: É, de algum jeito sim.
Marcelo: Poderia tocar no rádio. “Correnteza” tem tudo a ver com “Há Tempos”. Se o cara colocou uma música dizendo “parece cocaína mas é só tristeza” na rádio, por que não?
Olavo: Mas isso foi em outro tempo.
Marcelo: O problema então não é a música, mas o tempo-espaço. O formato das músicas está lá. Até porque “Há Tempos” toca até hoje na rádio.
Bruno: A frase que o Marcelo não está lembrando, mas que ele já me disse várias vezes, é que ele botaria dinheiro para “Um Jeito Especial de Dar Errado” tocar no rádio. Se você pensar que é a Marília Mendonça cantando, dá certo. Não muito longe, é o Leonardo cantando “Longe”, do Marcelo Jeneci.
Olavo: (risos). É, pode ser.
Marcelo: E eu não imagino o Superguidis assim, ou o Jair Naves assim. Pullovers sim.
Bruno: O Pullovers já tocou em novela!
Marcelo: Mas tem músicas aqui [no “Bolero #9”] que uma pessoa comum, um fã de classic rock que vai no show do Eric Clapton, poderia ouvir na rádio e não mudar de estação. Talvez ele não entendesse a mensagem, mas olhando para a música enquanto conjunto, aqueles três-quatro minutos, ela é totalmente tocável e grudável no ouvido. A coisa está toda muito próxima.
Olavo: Pegando o gancho da Legião Urbana: é uma banda fundamental para minha formação – e que eu ouço muito pouco hoje. Tem bandas que eu comecei a ouvir lá na adolescência e ouço até hoje. Um bom tanto, na verdade. Legião acaba não sendo uma dessas bandas. Às vezes, eu ouço o “O Descobrimento do Brasil”, mas não muito.
Marcelo: Que é o melhor disco deles porque é a Legião soando Legião. Não é o primeiro que parece U2, nem o segundo que parece Smiths, nem o terceiro que parece Ramones ou o quarto que é quase Simple Minds (risos). O “V” é anos 1970 pra cacete, mas o “Descobrimento” é onde a Legião é Legião.
Bruno: O Legião é um buraco que eu me enfio uma vez por ano, que nem “Casablanca”.
Olavo: Pô, mas pensa assim: 1988, Legião fazendo show no Uberlândia Tênis Clube, ainda no show do “Dois”. Se aquilo não muda a vida de um fulano, nada mais muda.
Marcelo: Vi em Taubaté e São José dos Campos… era muito Beatlemania. Até porque ninguém também ouvia os Beatles.
Olavo: O Legião era a nossa Beatlemania possível. Mas aí tem um período de rejeição e um período de reconciliação. E as letras do Renato Russo são muito fora da média. Mesmo, mesmo. Muito boas. E ali naquele período, 1989 ou 1990, pintava já Mulheres Negras, Fellini. Tenho até hoje o “Sanguinho Novo”, que tinha várias bandas incríveis, o Vzyadoq Moe, aquelas paradas mais quebradas. É muito formativo para mim, aquele som e aquele período, o Paralamas para caralho. O show do “Bang Bang” no Uberlândia Tênis Clube? Foda, muito foda. Paralamas é ainda uma banda que você continua ouvindo, é uma banda consistente, mas fiquei décadas sem ouvir Legião. Mas é formativo para mim, pra caralho. E Beatles: tenho um tio, Olavo, que foi embora para a Alemanha e deixou para mim uma caixa com todos os discos dos Beatles em vinil. Era 1980, eu tinha nove anos. Comecei a ouvir pela sequência. De cara, fui nos discos do começo, no “Beatles for Sale”, no “Please Please Me”, que era mais para criança, e fui ouvindo a discografia. Dali um ano, eu era uma criança beatlemaníaca. Tenho esses discos até hoje.
Marcelo: Que inveja. Só herdei o “Beatles Ballads”… e durante muito tempo achei que os Beatles eram uma banda que só fazia baladas. O que me lembra o livro do Jarvis Cocker, “Good Pop, Bad Pop”. Tem uma passagem em que ele conta quando descobriu Velvet Underground – ele diz que foi só depois de montar o Pulp, porque alguém numa resenha falou que a banda lembrava Velvet. Ele pegou uma coletânea e na primeira música vem um rock. Depois vem uma balada. Depois uma doideira tipo “Sister Ray”. É uma banda que não dá para colocar numa caixinha.
Olavo: É engraçado, porque uma das coisas que rolaram com o Gianoukas é o fato de que as bandas que a gente mais adora são bandas que não dá para colocar numa caixinha só. É Beatles, é Velvet, é Ween… (respira) O Ween é uma banda que eu amo, mas que tem disco de country, tem disco fazendo umas coisas latinas calhordíssimas. É a diferença de jogar um videogame de mundo aberto ou um que tem roteiro. Na música, você pode fazer qualquer coisa. Ninguém manda em você, a menos que você tenha algum contrato com alguém. Mas na música independente, ninguém manda em você e não está nem aí para o que você faz.
Marcelo: Tem bandas que poderiam ser eu, coisas pop guitarreiras tipo Ash, Idlewild, Sebadoh, Wedding Present… bandas pop até a medula, mas com um veneninho. O Teenage no auge, o Replacements do final…
Olavo: Dream Syndicate! É engraçado porque escrevi isso esses dias no Bluesky: a banda que eu queria ser era o Velvet. Zero originalidade da minha parte! Mas pô, fazer “Black Angel’s Death Song” e depois “Who Loves the Sun?”.
Marcelo: Ter liberdade para fazer isso é do caralho. E aí a gente vai voltar para um ponto (que a gente sempre discorda – risos)… A graça nessa coisa toda é a perenidade. Que é uma coisa…
Olavo: É uma bobagem.
Marcelo: Você acha uma bobagem. Mas eu estava vendo a St. Vincent tocando na sala das Pinturas Negras do Goya. É uma coisa que não era para existir. Aquilo ali era a casa que o Goya tinha. Ele era pintor da Corte, mas na casa dele ele pintou as coisas mais depressivas que dá pra imaginar – e só descobriram depois que ele morreu, e aí levaram as paredes da casa pro Museu do Prado. Aquilo não existe na cabeça do Goya enquanto arte. Mas é uma sala de chorar, ela te engole. Ele fez pros demônios dele, que é o que eu faço com o Scream.
Olavo: É o Kafka pedindo pro amigo queimar os rascunhos dele. É você bater no peito e fazer o que você queria fazer. É a afinidade eletiva. Todos temos afinidades eletivas. Pra você faz sentido o Goya, o Francis Bacon…
Marcelo: Mas você vai ter o Goya, o Velvet – o capítulo do Velvet no livro “O Resto é Ruído” é lindo – a Vivian Maier…
Olavo: Tenho o livro dela e é foda. É uma observação humana, transcendente, chã pra caralho, concreta e ao mesmo tempo gigantesca. É bom que a gente possa ter essa possibilidade na nossa pequena trajetória. Essa coisa de permanência, não boto muita fé, mas nesse tempinho em que você possa trombar com essas coisas [a arte] e o teu momento ali ter uma epifaniazinha, uma iluminaçãozinha, é uma sorte.
Marcelo: Transpondo isso pro Lestics: tem a mesma chance!
Olavo: Eu me alegro com essa possibilidade. Até porque gosto de ouvir os discos que fiz. Estava ouvindo o “Panorâmica”, do Gianoukas Papoulas, esses dias. E estava achando do caralho. Tenho várias críticas com relação à minha parte no disco, do que pude entregar, mas a despeito dessas questões, acho um puta trampo legal, de verdade. Subestimado de algum jeito. Sei lá se é uma palavra que cabe, não dá para ficar se elogiando assim, mas é um disco que chegou em muito pouca gente. Até para os meus parâmetros! É algo que vai virar esquecimento e pó. Mas durante um tempo, vou poder voltar e ouvir. É gostoso. Quando eu estiver bem velhinho, sem dentes, vou poder contar que teve uma hora que acendeu uma luzinha e veio tal coisa. Não penso em posteridade.
Marcelo: Pô, mas daqui a sei lá quantos anos uma banda que nem existe ainda pode regravar “Ela Se Foi”.
Olavo: Estou cuspindo de novo para cima, mas isso me interessa menos. Acho mais legal eu mesmo poder ouvir e lembrar. Não sou uma pessoa nostálgica. Até tenho problemas com isso: às vezes precisava ter uma memória melhor das coisas, mas acho que sou tão pilhado em ver o que tem pra frente que acabo negligenciando. Nessa altura do campeonato, até que é legal poder revisitar e ouvir – até porque as coisas não são mais velhas. Isso ajuda a contar uma história minha para mim mesmo – e é legal poder contar sua história sem ser nostálgico. Mas pode ser que eu me torne uma pessoa nostálgica.
Bruno: O Lestics é uma banda que fez mais discos do que a média da geração, mas que fez poucos shows. Pessoas que eu conheço que amam o Lestics viram um show, talvez dois. Eu vi três – e sei que vi muitos. Como é a sua relação com o palco? Por que houve tão poucos shows do Lestics nesses 20 anos de banda?
Olavo: Vou ter que voltar um pouco para responder. O Gianoukas Papoulas começou em 1994, mas o primeiro registro oficial é só de 2003. É quase uma década. Mas, nesses nove anos, nós fizemos shows pra caralho. Havia uma configuração que favorecia. Muita gente fala que era ruim tocar nos anos 1990. Não era não! Nós íamos e os lugares eram cheios de gente que estava indo ver bandas que elas não sabiam quais eram! Elas só sabiam que naquele lugar tinha algo legal. Na Torre do Dr. Zero, no Blen Blen, no Matrix. Nós íamos tocar e tinha gente para assistir. Quando começou o Lestics, já era outra realidade, mas ainda havia bastante lugar para tocar – e um pouco de público dos locais. Mas não conseguíamos viajar porque eu tinha filho pequeno, tinha trampo, tinha responsabilidades práticas. Havia até um certo conflito: o Xuxa falava para a gente marcar um monte de show e eu simplesmente não podia tocar em Sorocaba num dia e em Taubaté no dia seguinte. Não dava, eu precisava bater ponto. E tem outra coisa: eu não tinha me encontrado no palco. Só fui saber quem era o Olavo Rocha no palco em 2016. Passei a vida tocando sempre muito encanado. O palco não era o lugar em que eu me sentia mais à vontade – e quando eu finalmente me encontro, é quando a gente tem menos shows, porque os rolês diminuem. Acho que devo ter feito uma dezena de shows feliz. É muito doido. Hoje, a configuração é de uma banda bastante desmantelada, tem a questão da distância, mas para 2025 estamos conversando para conseguir estruturar um esquema para fazer shows.
Marcelo: Pra fechar, quero que você escolha uma música de cada disco do Lestics. A sua favorita de cada disco e o porquê. “9 Sonhos”?
Olavo: Do “9 Sonhos”… (pensa). É foda, mas é “Elefantes”. É a primeira música que nós fizemos para a banda e é uma música totalmente verdadeira: é um sonho – e eu escrevi o que eu sonhei. É uma música que captura minha simpatia, tem uma alegria que gosto. Do “Les Tics”, eu acho que é… (respira)
Marcelo: Eu teria dificuldade de escolher.
Bruno: É um disco que para mim é bem difícil também.
Olavo: Cara, é “Luz do Outono”, porque ela é um reflexo do meu amor pela Dea. Tem um dos versos que mais curto ter escrito, que é “a eternidade vai um pouco além do que eu costumo planejar”. Diz muito respeito ao meu sentimento, ao modo como vivo a vida. Não sou uma pessoa que fica esperando grandes coisas, mas quero saber o que a gente pode viver de bacana agora.
Bruno: Quais são as músicas que você fez para a Dea?
Olavo: “Luz do Outono”, evidentemente. “Metamorfose”. Ela é atriz, claramente é para ela. “A Dança”, true story: teve um dia que eu estava para baixo e ela me puxou pra dançar, e enfim… No “9 Sonhos” tem uma música para ela, que é “O Mundo Acaba”. Quase todo disco tem.
Bruno: Depois do “Lestics”, vem o “Hoje”.
Olavo: Do “Hoje”, acho que é “Plano de Fuga”. É muito malvada, gosto da malvadeza dessa música.
Marcelo: Como ela surgiu?
Olavo: “Plano de Fuga” sou eu contando uma história para mim mesmo e tentando saber onde ia dar. Vem uma primeira imagem, “o fiapo de fumaça se desprende dos escombros do seu último projeto”, vem esses versos iniciais, e depois vou seguindo. Eu não sabia que era uma música sobre uma coisa tão menor, que é alguém que sai de casa e bola um puta plano… sendo que é só ir lá e abrir a porta.
Marcelo: O Hanif Kureishi escreveu um livro inteiro sobre isso!
Olavo: Mas gosto de saber onde a coisa vai dar e vou fazendo. É uma malvadeza e gosto bastante.
Bruno: O próximo é o “Aos Abutres”.
Olavo: Do “Aos Abutres” é bem difícil de sacar uma música que eu gosto mais, mas é “Tudo é Memória”. Fiz “Tudo é Memória” pensando numa pessoa, mas ela ultrapassou essa pessoa, ela me engoliu e ela engole mais coisas. A música nasce de uma forma muito mesquinha, pensando em algo específico, mas depois a carapuça serve para mim mesmo e ela ganha outro tamanho. Depois vem o “História Universal do Esquecimento”, e aí a favorita é “Quinze Mil Dias”. Mas se a gente fizesse a entrevista daqui a uma hora, talvez mudasse. O “História Universal” é um disco que ficou um pouco longo, mas é um disco que eu gosto muito. Ele veio depois do “Aos Abutres”, um disco que foi razoavelmente celebrado, e o “História” é um disco mais difícil. Acho que ele é melhor do que ele foi recebido, mas entendo a dificuldade porque ele é mais pesado. “Quinze Mil Dias” é de quando eu estava prestes a fazer 40 anos, e isso me abalou. Acho que passei por uma certa crise aí, mas essa mesma crise tem um contraponto, o verso “enquanto isso, meus amigos e irmãos vão cantar comigo”.
Marcelo: Aí tem o “Seis”.
Olavo: É, o “Seis” (folheia o disco). Tenho dificuldade de escolher. A pessoa gosta do que ela fez (risos). Que idiota, né, cara? Hoje é “O Lado de Lá”, não só por causa da letra, que é singela, talvez das menos elaboradas. Esse disco tem letras que gosto bastante. Acho que são algumas letras particularmente caprichadas, mas o “O Lado de Lá” não é uma dessas letras. Gosto muito do sentido delas, do arranjo de cordas do Neymar Dias.
Bruno: Tem uma história boa desses arranjos de cordas, né?
Olavo: Não sei se ela é publicável.
Bruno: Conta para o Marcelo e a gente decide.
Olavo: Quando chamamos o Neymar para fazer os arranjos de cordas, ele combinou uma data para gravar. Ele é um querido, um cara foda – e um músico monstruoso. Mas nessa de combinar, perguntei quando ele ia mandar uma prévia dos arranjos. E aí ele: “pô, cara, não, não precisa mandar para vocês o arranjo”. Eu respondi: “Pô, Neymar, mas eu queria ouvir antes o que você pensou antes”. E aí ele, sem carteirada, na boa… “pô, cara, eu faço os arranjos pro Ivan Lins e não mando para ele os arranjos antes de gravar…”. “Pô, Neymar, mas vou te pedir para me mandar”. Não tem cabimento uma comparação do Ivan Lins comigo, claro, mas na minha humildade disse que eu queria saber o que ele escreveu. E aí ele mandou os arranjos para “O Lado de Lá” e “Desvario”. E eu chorei. Passei mal ouvindo os arranjos.
Bruno: Conste nos autos que nesta casa tem mais discos de Olavo Rocha do que de Ivan Lins.
Olavo: (risos). Do “Torto”, é “Diversão Dominical”, muito por causa da letra. Vou puxar a sardinha para o meu lado. É uma música que, nessa fase em que eu passei a gostar de fazer show, tinha uma versão ao vivo legal demais. Do “Breu”, a favorita é “Mais Do Que Isso”. Ela é meio que um plágio, na real. Às vezes a gente se engana, a memória falha. Mas se não me engano, tem um poema do pai do Tarkovsky que diz algo como “a vida precisa de mais do que isso”. E isso ficou na minha cabeça. Enfim, às vezes a gente copia as coisas com mais intencionalidade ou não. No meu caso, prefiro ser um plagiador não intencional, não faço muita citação. Sei que já fizeram, sei que Shakespeare e os gregos já disseram antes. Mas prefiro não buscar a citação intencional. Semana passada, eu estava ouvindo aquele disco do Dylan ao vivo de 1975, o “Rolling Thunder Revue”. E depois de mil anos, lá estava eu ouvindo “Blowin’ in the Wind”, que tem um verso que fala de montanhas e mares. Tem isso também na letra de “Enquanto Houver Tempo”. Mas juro por Deus que eu não copiei. E “Enquanto Houver Tempo” é a que eu gosto mais do “Bolero #9”.
Bruno: Dos rebentos todos, qual é o favorito?
Olavo: Sério? Não tem como. Não tem a menor possibilidade de escolher.
Bruno: Tem um patinho feio?
Olavo: O patinho feio é o “Hoje”. Todos os discos eu ouço gostando, mas em todos eles boto algum defeito. É igual ler um texto teu, achar legal, mas pensar que dá pra mexer em alguma coisa. O “Hoje” é um disco que eu mexeria em mais coisas. Não no repertório, mas eu mexeria em mais coisas. Fomos um pouco precipitados na produção, poderíamos ter amadurecido um pouco mais e também ter resolvido algumas coisas na produção. Fiz um pouco as pazes com o disco, ele não estava nos streamings durante um tempo, até porque eu tinha uma trava. Nesses dias, eu estava ouvindo o “Breu” e achei que faria o disco de outro jeito. Mas pode passar um tempo e eu achar tudo isso uma bobagem. Mas não, não consigo escolher um favorito.
Bruno: Mas tem favoritos?
Olavo: Gosto muito do “Seis” e do “Aos Absutres”. Acho que os dois se sobressaem um pouco. Mas, por exemplo, no disco novo, tem uma certa descoberta de como comunicar que acho muito legal. Foi experimentar um pouco a ideia de ser mais íntimo, com uma delicadeza. E todo artista tem sempre um carinho grande pelo último disco. Gosto bastante da mix do “Bolero #9”, dos arranjos e desse jeito mais intimista que tem um gosto especial. Não gosto de usar adjetivos para falar de discos. Acho bobo. Como um artista vai adjetivar o trabalho dele, seja para elogiar ou criticar? Autoelogio é sempre um negócio muito lamentável, você não tem que ficar se congratulando. Autocongratulação é um negócio… Toda vez que eu ouço o disco, ouço com prazer, mesmo achando que deveria mexer em algo. Mas se mexer, a chance de mexer e ficar pior é enorme.
– Bruno Capelas (@noacapelas) é jornalista. Apresenta o Programa de Indie e escreve a newsletter Meus Discos, Meus Drinks e Nada Mais. Colabora com o Scream & Yell desde 2010.
– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne.































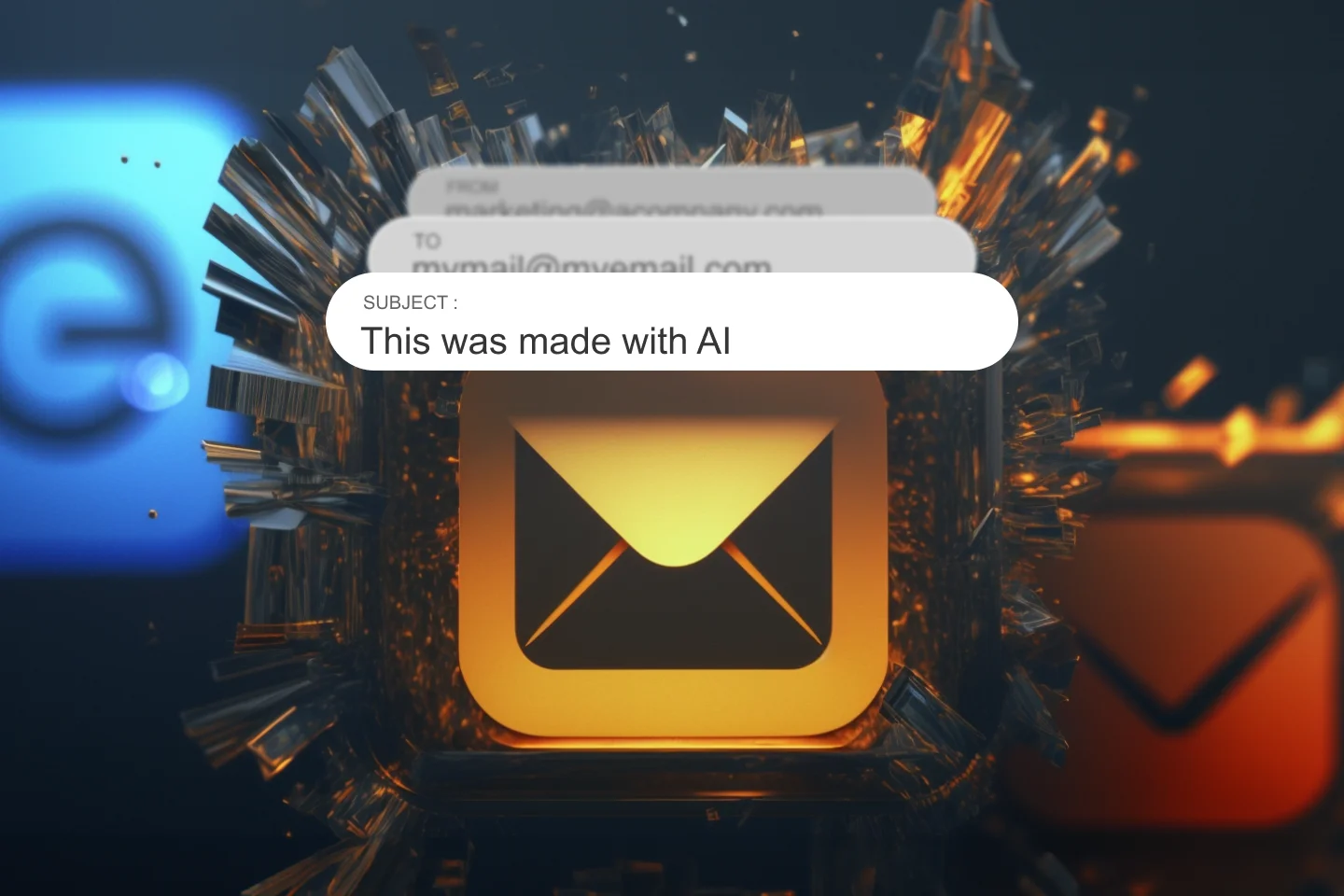





































![Na intimidade da arte fotográfica[À Sua Imagem]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xTDncqPPQLL6Z3Vk6C-saHZ5-a0EwP2zRynM1yxjCwxr6eib8hM4NTla42rgR9RseH3LBfZQQTEhWSiJjBJA5pXRldX85P4Bonbt5iLCvQtJ-3cJuqfwphzhQXIr2Y36DEWHlUvkfeWzxt33IcmSekvsUbJ_yqtQoZRPFrIRihAvY0R2kUYAsQ/w1200-h630-p-k-no-nu/A%CC%80%20SUA%20IMAGEM.png)














































































.jpg)


.jpg)























