Entrevista: Com os pés nos anos 2000, Supervão filosofa sobre nostalgia e avisa que “o indie está vivo”
O grupo conta ainda como está sendo a chegada dos novos integrantes, faz planos para o futuro e elogia o Circuito Nova Música, festival itinerante organizado pela Mais Um Hits e por Lúcio Ribeiro

entrevista de Bruno Capelas
Saem o mullet, o bigodinho irônico e o Launchpad eletrônico; entram em cena os All Stars, as camisetas brancas básicas e as guitarras à la Strokes. Essa seria uma forma rápida de descrever a transformação da Supervão entre “Faz Party”, o disco de estreia lançado em 2019, e o recente “Amores e Vícios da Geração Nostalgia”, favorito do jornalista Lúcio Ribeiro no ano passado. Com mais de dez anos na estrada, a banda de São Leopoldo chegou ao segundo álbum no final de 2024 e tem arrancado elogios por onde passa com um show enérgico, divertido e dançante, como uma boa pista de balada roqueira nos já distantes anos 2000.
“Não tem coisa que eu quero fazer mais da minha vida do que tocar. Ensaiar eu até gosto, mas pô, tocar ao vivo? Gosto de ver todo mundo louco, gosto quando vira um acontecimento”, diz Mário Arruda, vocalista, guitarrista e um dos dois membros fundadores da Supervão, que se transformou de duo em quarteto nos últimos tempos. Agora, além dele e de Leonardo Serafini (guitarra e voz), a banda conta também com Olímpio Machado (baixo) e Rafaela Both (bateria). Antes de crescer, porém, a Supervão quase acabou.
“Chegamos a fazer 10 anos de banda sem nunca ter parado, mas no final de 2023 a gente resolveu dar um tempo pela primeira vez. Quando a gente foi se reencontrar, a gente queria acabar com a banda”, comenta Serafini. “Na época, eu percebi que estava tentando fazer um hit – e é chato tentar fazer música pro pessoal gostar. Olhei no espelho e estava de mullet e bigodinho, meio trapzinho indie. Foi aí que eu entendi que a gente tinha de parar”, explica Arruda. O que salvou a banda foi uma daquelas cenas de filme: antes de se despedir de Leonardo, o vocalista mostrou uma nova música, feita na guitarra. E a partir dali, os dois redescobriram a paixão de tocar.
“Foi um reencontro nosso mesmo, de tocar e encontrar a canção, encontrar o rock, as guitarras de novo, botando de lado os computadores e os softwares”, diz Serafini, que teoriza a respeito do nome do disco lançado no ano passado. “Quando veio o nome do disco na cabeça, a gente não sabia o que queria dizer, mas parecia que queria dizer alguma coisa (risos). Mas eu diria que essa é a nostalgia do álbum: o reencontro com o nosso passado.”
Na entrevista a seguir, Serafini e Arruda contam mais sobre os bastidores da composição e da gravação de “Amores e Vícios da Geração Nostalgia”, um disco que remete não só à fase heroica de bandas como os já citados Strokes e Arctic Monkeys, mas também Superguidis – Andrio Maquenzi, vocalista do grupo gaúcho, aparece inclusive em “Cabelo”. “Para mim, a Superguidis é a banda mais massa de todas”, confessa o vocalista. Ele também fala sobre a produção do disco, cunhada para não ser apenas mero decalque dos anos 2000. “Acredito que por mais que tu tente copiar uma coisa, ela nunca vai ficar igual. ‘Noia York’ por exemplo, é muito parecida com ‘Fake Tales of San Francisco’, mas não tem essa: a gente entrou num fluxo e o desejo levou a gente para outro lugar”, diz.
O grupo conta ainda como está sendo a chegada dos novos integrantes, faz planos para o futuro e elogia o Circuito Nova Música, festival itinerante organizado pela Mais Um Hits e por Lúcio Ribeiro pelo Estado de São Paulo no mês de janeiro. “Minha única dor no coração é que eu já toquei nele – e para tocar de novo tem que fazer outra banda”, diz Arruda, que também manda notícias de Porto Alegre pós-enchente. “Como cena, estamos no melhor momento, mas a infraestrutura está no pior momento”, diz ele. Se depender da Supervão, porém, a cena vai continuar quente: “O rock eu não sei [se acabou], mas o indie está vivo!”, defende Serafini.
A primeira coisa que se ouve no “Faz Party”, o primeiro disco da Supervão, é uma percussão de samba, bem brasileira. Cinco anos depois, quem der o play no “Amores e Vícios da Geração Nostalgia” vai ouvir uma guitarra bem anos 2000. Onde é que foi parar aquela banda de 2019? O que aconteceu entre um disco e outro?
Leonardo: Vivemos um processo longo nesses cinco anos – e se você for ouvir as músicas que a gente lançou entre um disco e outro, tem mais outras “bandas” que foram testadas. O “Faz Party” surgiu de um momento muito específico, que veio de um selo que nós tínhamos chamado Lezma Records. Era um selo que fazia muitas festas misturando pista e shows. Aos poucos, começamos a ter cada vez mais DJs nas festas, mais música eletrônica, mais foco em dança – e os shows da banda foram ficando mais eletrônicos. E o que acontece depois? Veio a pandemia – e na pandemia a gente caiu de vez numa distopia musical. Lançamos um EP chamado “Depois do Fim do Mundo” totalmente eletrônico, feito sem a gente se encontrar. A gente [Leonardo e Mário] nem se falava direito, só ficava trocando ideias musicais. Chegamos a fazer 10 anos de banda sem nunca ter parado, mas no final de 2023 a gente resolveu dar um tempo pela primeira vez. Eu e o Mário cansamos, chegamos num momento de querer respirar, tirar férias. Ficamos uns dois meses sem nos falar. Fui viajar, o Mário tinha acabado o doutorado… e quando a gente foi se reencontrar, a gente queria acabar com a banda. “Deu, né?”
Mário: É aquele negócio: você vai fazendo a banda, algo despretensioso, e aí a vida começa a apertar. Cara, eu quero fazer música para sempre – mas como é que faz para fazer música para sempre? Percebi que estava tentando fazer uma música que pudesse estourar, tentando fazer um hit… e é chato tentar fazer música pro pessoal gostar. Comecei a questionar o que eu estava fazendo. Lembro que foi uma fase meio R&B, meio trapzinho indie. Lembro de olhar no espelho e ver a minha imagem: eu estava de mullet e bigodinho, com umas roupas que não eram da minha raiz. Foi aí que entendi que a gente tinha que parar, que eu estava me envergonhando.
O que tem disponível para ouvir dessa fase que você diria pra ninguém ouvir?
Mário: Pô, o que tinha de música solo eu tirei do ar. Acho que as ruins da Supervão a gente tirou também, mas deixamos no ar o que é bom. Tem “Sad Boy”, que é uma música que acho legal, e outra que chama “Melhor Momento”. As que a gente não gostava a gente tirou. “Melhor Momento” é muito boa, sério. Mas no clipe eu tô total transtornado, de mullet e bigodinho.
Leonardo: Pô, mas essa parte é boa. (risos)
Mário: É efeito da loucura da pandemia. Mas também é efeito disso, de tentar fazer uma música para ser mais abrangente. E eu enjoei. Chegou uma hora que pensei que não tinha mais nada para fazer. Acho até que o Leo estava até mais enjoado do que eu. Foi bem certinho: a gente se juntou e falou que já era. “É, vamos parar, não tem como”.
Mas aí… vocês não pararam.
Mário: A gente já estava quase se despedindo, daí eu virei pro Leo e mostrei uma guia de uma música. Era a primeira versão de “Cabelo”. Ele virou e falou:” bah, essa ficou boa, hein?”. Eu: “Não quer gravar uma guitarra então?”. Resolvemos gravar, ficamos umas três horas tocando, só na função mesmo. E aí voltamos na outra semana, e depois de duas semanas começamos a nos ver de novo para gravar.
Leonardo: Começou tudo de novo, né.
Mário: E de novo a gente só ficava trabalhando nas músicas, falava do que a gente estava ouvindo e ficava tocando. E eu estava ouvindo indie de novo. Mas cara, esse negócio de ficar só tocando… Lembro que na época minha guitarra ainda estava toda fodida. Levei no luthier e quando ela voltou, pensei: “Meu Deus, como é bom tocar uma guitarra”. Tá ligado? Pegar uma guitarra é um negócio muito fácil de tocar – e eu estava desacostumado. Nunca fui de ter instrumento bom, e com esse lance de tocar eletrônico, tudo vivia dando problema. Papo reto, cara: eu tinha um Launchpad, era legal de usar, mas ele sempre dava problema no USB. Sempre fui de tacar o terror nos shows, mas quando ia apertar o negócio eu tinha que ficar calminho. Eu tinha que ser duas pessoas no palco. E quando voltei a tocar guitarra foi do caralho. “Pô, dá para tocar forte na guitarra e ela não estraga!”. Isso foi melhorando a vida, deu mais alegria. Era menos problema, menos burocracia, menos pretensão. Foi total sem pensar, foi só o prazer de tocar, deixando a música falar – e acho que ela falou.
Leonardo: Foi um reencontro nosso mesmo, de tocar e encontrar a canção, encontrar o rock, as guitarras de novo, botando de lado os computadores e os softwares. Essa é a nostalgia do álbum: esse reencontro com o nosso passado. Foi assim que a gente se conheceu e começou a tocar, com essas influências. Foi isso que aconteceu.]
Nessa época vocês estavam apenas em duas pessoas. Como foi que vocês perceberam que precisavam de mais gente na banda?
Leonardo: Na época do “Faz Party”, nós chegamos até a ter um baixista [Ricardo Giacomoni], mas foi outra perda que tivemos na pandemia. Chegamos a fazer uns shows apenas com nós dois no palco, e começamos a achar pesado. Tinha que usar muita programação. E aí quando começamos a pensar no “AVGN” (“Amores e Vícios da Geração Nostalgia”), as baterias foram pensadas para formato de banda. Por mais que elas tenham sido programadas, a gente pensou em programar as baterias como se fosse um humano tocando. É engraçado, porque antigamente a gente fazia o contrário. E a estética do álbum remete a isso: ser algo mais orgânico, mais cru, buscando não a perfeição, mas o humano. O disco passa por esse sentimento de que às vezes não dá certo, mas que é importante estar lá, carregando a banda, dividindo sentimentos.
É importante falar: que nostalgia é essa? Quantos anos vocês têm?
Leonardo: A gente é cria dos anos 2000. Temos 35 agora, mas a nossa efervescência está ali nos anos 2000.
A pandemia foi uma época nostálgica. Foi o momento em que o millennial descobre que já não é mais tão jovem. Por outro lado, quem ouve o disco não sabe se vocês têm 25 ou 35 – e esse deslocamento pode acabar mudando a experiência de quem ouve o disco.
Leonardo: Pode rolar. Acho até que é uma intenção deixar meio em aberto. Que geração é essa? Que nostalgia é essa? Pessoalmente, para mim é a nostalgia do reencontro com o fazer, de me sentir mais emocionado com a música. Pegando o gancho da idade, preciso dizer que sempre fui uma pessoa contra a nostalgia. Mas, com o passar do tempo, os traumas que a gente vai vivendo, você começa a perder o senso das coisas que te fizeram começar. É pandemia, é guerra, o capitalismo selvagem que está cada vez pior. Parece que tudo faz com que a gente tenha de recorrer a alguma coisa para ter uma segurança. Com a idade, a gente começa a se sentir nostálgico. Não é uma nostalgia careta ou purista, de pensar que no meu tempo era melhor, mas uma nostalgia desse reencontro, fazendo as pazes com o que a gente é. Quando veio o nome do disco na cabeça, a gente não sabia o que queria dizer, mas parecia que queria dizer alguma coisa (risos). E toda vez que a gente falava para alguém, a pessoa dizia que fazia sentido – mas perguntava qual era a nostalgia. Era a nostalgia do indie rock? Da geração de vocês? E não tem resposta. E tem outra coisa também: a gente começou a ver uma galera mais nova aqui em Porto Alegre se interessando pelo indie, pelo rock, mas que não entendia como fazer festa com rock. A gente achou estranho, porque nos anos 2000 as festas todas eram de indie rock e eram uma loucura. Por outro lado, entendo: a galera mais jovem viveu a volta do dream pop, da psicodelia, as pessoas ficam paradas vendo os shows, então o disco também quis fazer uma tentativa. “Ah, vocês acham que não dá para curtir uma festa de rock? Dá sim, vamo lá”.
Além de tocar, vocês produziam festas. Imagino que a música não seja a única profissão de vocês, mas vocês parecem ter desenvolvido uma relação profissional com a música. É algo que pode levar a uma perda do encanto pela arte. Como é recuperar essa paixão? Dá para achar esse ponto de partida de novo?
Leonardo: A gente passou por vários momentos assim. Começamos numa vibe de “arte pela arte”, só para curtir, era um lance de diversão. Era sobre brincar, querer fazer um som e propor uma estética – e as pessoas foram se conectando, as coisas começaram a dar certo. Sempre carregamos esse peso de ter “vidas duplas” – o próprio baixista saiu por causa disso na época da pandemia. Por outro lado, entendemos que viver de música é muito mais amplo do que só ter uma banda e tocar. Nosso baixista, o Olímpio, atualmente é técnico de som e viaja pelo Brasil fazendo PA para um monte de gente. O Mário dá aula de música e de produção, eu faço assessoria de imprensa para as bandas, nós vamos juntando esse mundo. Mas é isso: no começo era só diversão e depois começamos a correr atrás do dinheiro. Deu certo. Sempre conseguimos empatar as contas para não colocar grana de outros lugares, mas a banda virou trabalho. E ficou chato. Em vez de comemorar um show importante, a gente já estava pensando no próximo. Começamos a nos podar criativamente, pensando que algo bom não ia dar certo para o mercado. Não tem como dizer que música não é trabalho. Nós investimos tempo e tomamos risco, seja para fazer uma turnê ou produzir um show legal. Em Porto Alegre falta local de show, então precisamos montar o espaço, alugar o equipamento… e isso fez a gente se perder nas responsabilidades. Foi por isso que a gente queria acabar a banda. Voltar a tocar guitarra no quarto trouxe essa conexão de volta. E colocar outras pessoas para dentro fez com que a gente se divertisse mais tocando. Tocar tudo só em duas pessoas era muito pesado: decidir comunicação, arte, logística, produção… Tivemos de colocar outras pessoas para lembrar como era tocar. É por isso que o álbum dói, que às vezes ele é triste, mas também tem esse tom de “foda-se, é isso que tem”. É importante não se levar tão a sério.
Esse novo regime da Supervão é uma democracia igualitária ou vocês dois têm mais peso?
Leonardo: É algo que a gente ainda está descobrindo, porque é muito recente para nós. O Olímpio é um cara que a gente conhecia há mais tempo, porque ele fazia o nosso PA e também mixou e masterizou algumas músicas. Ele já viajou várias vezes com a gente e entendia quem somos eu e o Mário. E ele entrou na banda porque falou que a gente ia ter de gravar o disco ao vivo – e aí a gente mandou ele tocar baixo. Já a Rafaela a gente conheceu no estúdio, por indicação. Ela é a personagem mais nova da nossa história. Acabamos de fazer a primeira viagem com a banda, estamos começando novas composições e estamos nos descobrindo. A ideia é ser uma democracia, mas também já sacamos que tem coisas que é difícil compartilhar com todo mundo. Não tem uma resposta. Mas acreditamos muito no lance de ser uma banda – e não de ser um compositor com outras pessoas tocando.

Além da chegada da Rafaela e do Olímpio, o disco tem diversas participações. Tem Papisa, tem Andrio Maquenzi, tem o Roger Canal. Como foi chamar mais gente para participar dessa brincadeira?
Mário: Era uma coisa que a gente já tinha antes. Sempre quisemos fazer música com outras pessoas. Em 2023, quando a gente começou a fazer alguns singles, nós fizemos vários feats – com a Kuki, com a Olho Mecânico, com a Viridiana. Gosto muito da ideia do feat quando tem a ver com a música. Não é só para pegar dois públicos, mas é porque o som tem muito a ver. No nosso caso, é bem por aí. “Love e Vício em Sunshine” era uma música que a gente tentou gravar o baixo, mas não estava rolando, então chamamos a Gabriela (Lery) para fazer. Quanto ao Andrio… cara, a gente ia em todos os shows da Superguidis. Não é que a gente ia em alguns. A gente ia em todos. Em Porto Alegre, em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, até no interior a gente pegou um carro de galera e foi. Para o Andrio, a gente juntou três músicas e mandou na melhor vibe “vai que ele aceita”. Para mim, a Superguidis é a banda mais massa de todas.
O que vocês mandaram para o Andrio além de “Cabelo”?
Mário: Mandamos uma que não entrou no disco e acho que “Sei Lá, Não Deu”. E aí teve o Roger Canal: “Noia York” é um conceito dele, que ele difunde. Ele gravou um EP chamado “Noia York Está Me Matando” e a gente precisava chamar ele. De quem eu não falei?
Da Papisa.
Mário: Então: o Leo escreveu uma música mó bonita. E eu tenho uma mania de compor letra em que eu só faço a primeira parte. Sempre. Deixo sempre o segundo verso em branco, porque se a gente achar que a música é ruim eu não preciso continuar. Mas nesse caso a gente foi achando que a música foi ficando bonita e pensamos que poderia ter alguém cantando. E tinha que ser a Rita, porque ela canta maravilhosamente bem. A verdade é que não tem nenhum feat de alguém que a gente não conheça. É tudo gente que nós já conhecíamos há uma cara.
Leonardo: Até chegamos a pensar em chamar uma galera que a gente não conhecia. Mas aí rolava: “Pô, mas esse cara a gente não saca direito”. Quando falamos do Andrio, sabíamos que tinha que ser – se era para arriscar alguém, tinha que ser ele. No caso da Rita, a gente tinha muita coisa em comum. Lançamos o nosso primeiro disco quando ela lançou o “Fenda”, que é um disco meio místico.
Mário: E pô, fenda é um vão, né? (risos)
Leonardo: A gente se identificou muito. Aí agora a gente fez uma música de amor e ela também estava fazendo um disco com a temática do amor (“Amor Delírio“).
Mário: É um fluxo de criação que acontece meio junto. Foi tri massa, nós fomos falando com ela no WhatsApp e ela gravou a segunda parte da música. Eu lembro que eu berrava: “bah, foda, olha que lindo!”. Ela queria regravar e eu dizendo que não precisava, estava lindo mesmo. É só os feat de verdade, esse negócio é sério (risos).
Tem uma coisa no “Amores e Vícios da Geração Nostalgia” que me deixou muito curioso. As músicas não tem só uma conexão estética com os anos 2000, mas também um esmero de produção. Naquela época, tinha muitas bandas que copiavam Strokes ou Arctic Monkeys na cara dura, mas não foi algo que eu senti no disco. A estética remete àquela época, mas não é um decalque. Como foi pensar na produção para não soar só como mera cópia?
Mário: A verdade é que a gente não pensou em muita coisa, só fomos fazendo o que a gente gostava e o que a gente queria ouvir. Mas sobre o lance de ser parecido e não ser, tenho algo a dizer. Minha tese de doutorado foi sobre diferença e repetição. E eu estudei isso a fundo. Percebi que às vezes só um detalhe já faz as coisas serem diferentes. Se você flui para um lado e sei lá, gosta de algo dos Strokes, a coisa pode caminhar para os Strokes, mas em algum momento você faz algo diferente e a música vira outra coisa. No disco, acho que as guitarras e a bateria são bem Strokes, mas o jeito de cantar e o baixo são diferentes. O jeito de cantar veio de um lance meio de ouvir muito rap, muito rap. Foi algo que fez eu me ligar que se você faz uma música lenta, mas tem um jeito de cantar menos arrastado, a música ganha uma vida. Foi um recurso que usei nas músicas mais lentas do disco. Nas mais rápidas, porém, usei um lado mais melódico. E aí ficou diferente dos Strokes. Ao mesmo tempo, você pode dizer que o Arctic Monkeys tem algo de rap: no primeiro disco, o Alex Turner canta muito rápido. Mas claro, não é rap: é só um gosto de ter ouvido e aprendido algumas coisas. É algo que eu vejo agora no Fontaines DC. O cara lá canta num pique rápido, faz rima: não é rap real, mas é uma influência no indie. E por isso que acredito que, por mais que tu tente copiar uma coisa, ela nunca vai ficar igual. “Noia York”, por exemplo, é muito parecida com “Fake Tales of San Francisco”, mas não tem essa: a gente entrou num fluxo e o desejo levou a gente para outro lugar. A música ganha vida própria. Outro exemplo bom é “Sei Lá Não Deu”. O nome do projeto dela no Ableton era “Los Hermanos”, mas é a música menos Los Hermanos do disco.
Leonardo: A verdade é que a gente tentou copiar, mas não conseguiu.
É engraçado, porque quando penso na melodia, eu ouço Los Hermanos ali. “Sei lá, não deu” é uma prima de “pois é, não deu”.
Mário: Pô, aí tu esclareceu! É foda: o cara tenta copiar uma parte e daí copia outra. Mas tem muito isso do inconsciente: um dia desses eu fui fazer uma música nova e fiquei pensando num momento, mas quando terminei a letra, acabei falando de outra coisa que eu não queria falar. E quando me dei conta disso na produção, me despreocupei com achar que estava cometendo plágio, porque no fim das contas não vai ficar parecido, vai ser uma referência. Mas eu também me arrisco: tenho a ideia de que todas as músicas são um pouco de plágio das outras. Embora o expediente seja novo: na época do “Faz Party”, eu tinha um método diferente: em vez de pegar uma referência inteira do indie 2000, eu pegava um baixo de dub, misturava com uma guitarra dos anos 1980 e uma bateria de house. Era um negócio mais esquizofrênico.

“Faz Party” e “AVGN” são dois discos bem diferentes. Como tem sido a recepção do público para o álbum novo?
Mário: Acho que foi um alívio. Acho que os nossos amigos antigamente pensavam assim: “bah, os guri são tri, né? Somos amigos, mas eles se perderam…”. E aí quando a gente lançou o disco novo todo mundo falou: “agora sim, é o indie porra, vamo dale!”. Foi aí que sacamos que estávamos fazendo a coisa certa. A verdade é que a galera que gostava mais da Supervão eletrônica não era bem a galera do eletrônico, mas sim uma galera indie que estava numa influência de uma cena eletrônica. Não acho que com o disco novo a gente perdeu público. Teve gente que eu ouvi falar assim: “pô, ouve essa banda aí. Agora é indie, mas antes… era um negócio meio estranho”. Vou falar o quê? O pessoal não conseguia entender. Antes tinha gente que ficava desconfiada, em dúvida se podia gostar da banda porque a gente era meio pop. Tem muito disso: a música é um fator de identificação das pessoas – e se você não sabe dizer o gênero da banda, como é que você vai se identificar? O público ficava sem entender. E o algoritmo não sabia para quem entregar. No “Faz Party”, eu achava que quem curtia BaianaSystem ou Teto Preto poderia gostar, mas era diferente. Era pouco brasileiro para o fã de BaianaSystem e pouco rave para o fã de Teto Preto. Havia uma vitalidade de criação, mas era vontade demais de criar. Quanto mais fui estudando a criação, fui vendo que para criar algo que consiga existir no mundo, não dá para querer criar do início ao fim. É preciso aderir a territórios existentes. O que a gente fazia era meio solitário. Agora, não: é o indie, véio. Gosta de indie? Então ouve lá, pô. Acho na real que tem mais gente ouvindo agora agora. Eu acho. Estou torcendo, né?
De um lado, vocês estão há mais de uma década na estrada. Do outro, quem ouvir o disco pode achar que é uma banda nova, uma revelação. Como vocês se sentem com isso?
Mário: Acho que é coisa boa!
Leonardo: Ando achando que essa ideia de novo e velho hoje em dia está muito difícil de entender. Não vou julgar ninguém por dizer que é novo, porque para muita gente é algo novo. O próprio jeito que o Mário contou a narrativa remete a isso: pela reinvenção, é um álbum totalmente diferente do que a banda já fez. E nós mesmos estamos acessando coisas novas também. Ter uma banda com pessoas novas dá um gás que a gente não tinha antes. Embora eu também tenha essa dúvida sobre como me portar, sabe?
Mário: A novidade é contextual. Uma novidade é uma coisa pra quem não conhece antes. Estamos aí há dez anos, mas sempre é pouca gente. Historicamente, no Spotify, umas 200 mil pessoas ouviram a Supervão. É pouco: o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Nem no RS dá pra dizer que as pessoas conhecem a gente. Se a banda continuar crescendo ela ainda vai seguir sendo novidade. O próprio Terno Rei é um exemplo: até o “Violeta”, eles eram uma banda nova. Com o “Violeta”, eles viraram uma banda nova para muito mais gente.
Leonardo: E para quem já estava tocando há muito tempo, é muito claro o lance da pandemia. Parece que muita coisa foi deletada. Até para quem já conhecia as coisas, tudo parecia novo depois da pandemia.
Mário: A pandemia foi foda. Mas cara, eu tô no maior gás que eu já tive de tocar. Tocar uma guitarra nova, com os pedalzinho tudo funcionando, com bateria, o Olímpio no baixo. Não tem o que dar errado, é o megazord!
Leonardo: No próprio show, quem olha não pensa que a gente é uma banda velha. Porque estamos tocando com jovialidade.
Mário: Nós nos divertimos.
É divertido isso. O Strokes e o Arctic Monkeys são bandas meio paradas no palco. Quando fui ver o show de vocês, fiquei com medo disso acontecer. E na primeira música o Mário já foi pro meio da galera, na melhor escola rock gaúcho de fazer show.
Mário: Ô Bruno, não tem coisa que eu quero fazer mais da minha vida do que tocar. É muito bom. Ensaiar eu até gosto, mas pô, tocar ao vivo? Gosto de ver todo mundo louco, gosto quando vira um acontecimento. Em São Paulo achei que o pessoal não foi muito de participar. Mas em Campinas, em Americana, no lançamento em Porto Alegre, aí foi roda punk generalizada. Para mim essa é a coisa mais afudê de todas, é o que mudou minha vida muitas vezes: ir num show, assistir e voltar para casa achando que tudo mudou, que você quer montar uma banda ou fazer um novo tipo de som. Tocar é a melhor coisa do mundo. Tu conhece as pessoas, elas ficam empolgadas, tu fica empolgado também. E pô, acabei de comprar uma guitarra nova. Às vezes estou em casa, passo no estúdio e penso: “puta que pariu, mas é bonita mesmo”.
Leonardo: O show é essa vontade de se conectar com as pessoas. O maior trauma é quando o público é muito observador. Não somos muito focados nesse lance de técnica ou de tocar super bem, a gente quer é se conectar. Tocar para público sentado para nós seria o mais difícil. O lance é tentar fazer um acontecimento, alguma coisa que nem sempre é boa, mas é um acontecimento.
Vocês acabaram de citar o Circuito Nova Música, em que vocês, a Madre e o batata boy percorreram quatro cidades em SP em janeiro, com organização do Lúcio Ribeiro e do pessoal da Mais Um Hits. Como foi esse rolê?
Mário: Pô, foi a melhor coisa. Tem que fazer de novo! É a melhor coisa do mundo, ainda mais com as pessoas que foram. E pô, conhecer o Lúcio, ficar incomodando ele? Toda hora eu perguntava coisa para ele. Foi tri massa. E vou dizer: teve umas pessoas que fiquei impressionado. Em Americana e em Campinas, o pessoal ficou empolgado. Tu tem noção que o pessoal pediu palheta para nós depois do show? Eu queria dar, mas não podia porque eu só tinha uma e ainda ia precisar tocar no dia seguinte. Rolou isso, eu não tô mentindo. Tu não conhece o pinta, aí o pinta vem e fala um negócio desses pra ti? É foda.
Leonardo: O projeto todo é uma ideia muito massa. É um acerto muito grande do Mais Um e do Lúcio criar esse festival itinerante e ir para outras cidades. Já tínhamos tocado algumas vezes em São Paulo, mas nunca chegamos no interior. E essa organização de várias bandas viajarem juntas é perfeito. Você consegue um público e só por esse acontecimento já gera público. Muita gente que foi ver os shows não conhecia nenhuma das bandas, mas se interessaram pelo projeto. E a gente vai se conectando: ficamos tão próximos que a gente se encontrou com a Madre e fez uma música, em breve vai sair um feat. É um negócio que cria muita rede e chama a atenção do público, para além da mídia. Mais do que a mídia, o público comprou a ideia, ainda mais no interior.
Mário: É muito bom conhecer as bandas! Quando você toca num festival, e depois você se vê no outro, parece que você já é amigo há “milianos”. “Somo faixa”. É um projeto muito afudê. Minha única dor no coração é que eu já toquei nele – e para tocar de novo tem que fazer outra banda. Foi muito afudê, a coisa mais tri que tem, e nos trataram super bem: botaram a gente numa chácara, passamos o som e voltamos pra piscina, fomos tocar direto da piscina. Aí não tem como reclamar, né?
Em São Paulo, tem se falado muito sobre construção de cena, com o surgimento de casas e pequenas portinhas para tocar. Como estão as coisas em Porto Alegre?
Mário: Está ruim! Fechou tudo! Mas as bandas estão melhores do que nunca! É a melhor safra em 15 anos, pelo menos pela pilha da gurizada, sabe? Agora, por exemplo, começou a bombar um lugar chamado Caos, que é underground mesmo, mas que a galera vai. Os shows de rock começaram a ficar lotados de novo.
Leonardo: [Com a enchente], nós perdemos vários locais massa. E todos os outros indiretamente se ferraram com o que aconteceu. Muita gente ficou com medo do futuro, medo de investir na cena cultural numa cidade em que pode dar merda de novo. Ao mesmo tempo, tem uma cena nova e um público que sacou que tem que aproveitar a cultura, que viu na cultura um jeito de viver mais feliz, mesmo com a infraestrutura meio cagada. Aos poucos, os lugares estão começando a surgir de novo e o público está comprando muito a ideia. Em todo show, não importa se a banda é nova ou é pequena, a galera está chegando junto. Está rolando uma efervescência pós-tragédia.
Mário: A volta do indie é real. Em Porto Alegre, o pessoal ficou muito focado em música eletrônica, em bloco de carnaval… e aqui é assim: as pessoas vão total numa ideia só. Agora, rolou o negócio do indie. Quem é indie há uma cara parece que deixou de ter vergonha de ser indie. E rolou uma mistura: tem os véio que estão há muito tempo no rolê, a galera da nossa geração, que ia no Beco, e uma galera mais nova que nunca viveu o indie. Juntou todo mundo e está dando certo. O negócio tá bão. Mas é difícil: o lançamento do nosso disco foi feito num lugar que é de música eletrônica, tivemos que alugar tudo. Ficou lotado, mas tiramos pouca grana para todo mundo que trabalhou. O negócio está efervescente, mas o mercado não está bom. Como cena, estamos no melhor momento, mas a infraestrutura da cena está no pior momento.
Então já que a cena está boa, quero sugestão de cinco bandas para ouvir de Porto Alegre agora.
Leonardo: Ovo Frito, Isótopos…
Mário: A Recreio vai lançar um disco muito foda em breve.
Gostei muito do primeiro deles. “Passarinhos” é uma música foda.
Leonardo: É a minha favorita deles. A Viridiana também vai lançar um novo álbum agora.
Mário: Pra fechar, tem que falar da Bella e o Olmo da Bruxa. Falamos cinco, mas dava pra falar mais. A Ovo Frito está para lançar disco novo. E a Isótopos, reza a lenda, tem dois discos prontos.
Essa entrevista é sobre um disco que saiu há poucos meses. Mas vocês já estão falando de feat, de música nova… O que vem por aí no futuro da Supervão?
Leonardo: Vamos tocar, tocar e tocar. Mas sim, estamos começando a pensar nas próximas composições…
Mário: Já tem umas sete composições.
Leonardo: Mas estamos vendo para onde vamos. Queremos usar parceiros novos no disco, trabalhar com coisas diferentes além da nossa cabeça… Mas primeiro a gente está focado em tocar.
Mário: Queremos fazer muitos shows. Ô Bruno, avisa o pessoal aí que nós queremos tocar muito. São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, todos os lugares do mundo.
Leonardo: Quero ir pra Minas!
Mário: Goiânia!
Leonardo: E enquanto isso a gente vai tocando o próximo disco sem muita pressa. O negócio é tocar.
E o rock? Acabou?
Mário: O rock? Ih rapaz, nunca esteve tão vivo. É o melhor momento!
Leonardo: O rock eu não sei, mas o indie está vivo!
– Bruno Capelas (@noacapelas) é jornalista. Apresenta o Programa de Indie e escreve a newsletter Meus Discos, Meus Drinks e Nada Mais. Colabora com o Scream & Yell desde 2010.


























































![Pensar o pensamento [citação]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ZvYYtzhfcnLs1WpO5l8tZctpyVlqd-LWQfyzHHZaUk_La4JwgNHQD7WQIzZZAe1K7_s-fRM11HwHgsQE1P6RI6ljGjL4qxvTAhtu-repbdB77T85WHgSgsMtp0AzfHrfcAQm04p0pe1oyazc3gelXmoL4pgrtzSMP0n_iycljPLH5HY5q6e47A/w1200-h630-p-k-no-nu/PxC.jpeg)


![A herança de Prince* SOUND + VISION Magazine [FNAC, 26 abril]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqGUfG4jVuCwsYOrbUiu3xPGgVLv6aunh1UguU-9PfWWzYjRzlvf_E0qfLoc3GPVuVyyEopfFfGZuzT3L5KT7-hJNpZKDtxSiJ71E6YjbJiTaf4N8eX9ExEozF2u1EU2zrNq5hZpsh7okylvrqzPgll6-kcVZnyp9ub0kNQlQzqDpLzXMpIpgHA/w1200-h630-p-k-no-nu/POST_4X5_SOUND_VISION_MAG_PRINCE.jpg)




















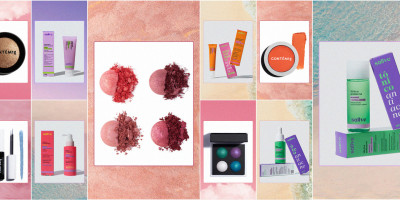


































.jpg)

.jpg)

.jpg)












