Entrevista: “A música é um local de resistência nesse mundo”, diz Pedro Abrunhosa
"Nós estamos vivendo (um tempo) em que é preciso refletir e pensar. A literatura, a música, toda a arte, é uma forma de resistir e de contrariar esse ciclo", diz Pedro

entrevista de Leandro Saueia
Se o Brasil passa ao mundo a imagem de país produtor de música alegre e rítmica, com Portugal acontece justamente o oposto. Por lá, é a melancolia do fado que permeia a visão global sobre a produção musical do país.
Obviamente, essa visão é generalista — e equivocada. Assim como tivemos inúmeros artistas brasileiros que se colocaram em oposição a essa “ditadura da alegria”, no Além-Mar Pedro Abrunhosa fincou sua bandeira na direção contrária. O cantor e compositor incorporou o funk (o americano, como ele gosta de frisar) ao seu som e o sexo, de maneira mais direta e natural, às suas letras — revolucionando o pop português.
“Viagens” (1994), seu disco de estreia, foi lançado quando ele já tinha 33 anos e um passado no mundo do jazz. A guinada para o pop foi mais do que bem-sucedida. O álbum tornou-se um fenômeno de vendas e abriu caminho para uma carreira que segue surpreendendo — o belo “Espiritual”, seu trabalho de inéditas mais recente, de 2018, que o diga.
Abrunhosa não é um sucesso de público no Brasil, mas pode-se dizer que o músico nascido no Porto é um “autor dos autores”. Lenine, Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Elba Ramalho, Chico César, Ivete Sangalo e Maria Bethânia estão entre os artistas que já dividiram o palco com ele e gravaram músicas suas, ou ao seu lado.
Em maio, Pedro Abrunhosa virá ao Brasil para uma série de shows em Belo Horizonte (SesiMinas, 15/5), São Paulo (Casa Natura Musical, 16/5), Porto Alegre (Teatro Unisinos, 18/5) e Rio de Janeiro (Teatro Prio, 21/5). Na conversa a seguir, feita via Zoom pouco antes de ele se apresentar em sua cidade natal, o cantor falou sobre esses concertos e da sua relação com a música brasileira.
Ele ainda deu dicas para ajudar os neófitos a conhecerem melhor o pop português — e comentou o que achou de ver “Viagens” ser eleito pela conceituada revista Blitz o melhor álbum feito na Terrinha nos últimos 40 anos.
Vamos começar pela turnê brasileira. Ao contrário do que acontece em Portugal, aqui você vai encontrar um público menos familiarizado com a sua obra.
Bom, de fato eu já estive no Brasil várias vezes. Sobretudo em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. Estive na Bahia também. Mas já faz algum tempo. E é natural. O Brasil é um país com muita música e não precisa da música dos outros países. E isso se entende bem. O Brasil colocou a língua portuguesa no mapa da música internacional, de uma forma bastante mais eficaz até do que muitos dos autores portugueses. Isto na década de 1940, 1950. Já para não falar do Noel Rosa lá para trás. Portanto, essa imensidão musical que o Brasil é, de vez em quando recebe a música portuguesa. E quando recebe, eu noto que há sobretudo uma incidência do Brasil sobre as letras. As minhas letras têm tido bastante impacto, algumas delas, no Brasil. E eu creio que essa é uma das razões pelas quais eu regresso com frequência ao país.
Ao longo desse tempo, você colaborou com muitos artistas daqui. Gente como Zélia Duncan e Lenine. Justamente um pessoal que estava modernizando a música brasileira do mesmo jeito que você estava fazendo em Portugal
Exato. Eu comecei a receber convites do Brasil logo em 1994, para ceder músicas minhas para o repertório (de outros artistas). Um dos primeiros pedidos foi de Sandra de Sá. Logo depois eu fui fazer show aí com a Fernanda Abreu e com a Elba Ramalho. Eu fiz uma pequena turnê pelo Brasil e correu muito bem. E de repente eu comecei a receber também pedidos para utilizarem as minhas músicas. Uma vez mais, sobretudo por causa das letras, por parte da Maria Bethânia, que gravou várias músicas minhas. E conheci o Lenine. Na época conheci bastante gente. O Chico César, o Paulinho Mosca… e com o Lenine criei uma ligação muito interessante. E convidei Lenine para um dueto. Gravamos “Diabo no Corpo”. Já faz um tempo também (a música saiu em 2002). E aí ele veio fazer show comigo. E nós já fizemos várias vezes. Temos uma grande afinidade musical. O Lenine tem a sua música enraizada na grande música negra. A sua relação com o mangue é… seminal. Há coisas que ele vai buscar muito, onde eu também vou buscar, no funk americano. Aquela capacidade rítmica do Lenine é uma coisa devastadora. É impressionante. E temos também uma apetência grande pela literatura e pelos grandes temas da escrita. É isso que que nos une. A Zélia Duncan também. A seguir, vem numa fase em que eu gravo com ela. E mais recentemente, no último disco, gravei com o Ney Matogrosso. Portanto, há uma ligação minha muito interessante com a música brasileira.
É interessante, porque assim como você, o Lenine só se encontrou musicalmente depois de uma certa idade.
Sabe, quando se chega à música pop com 33 anos, você já é velho (risos). Agora, o que tem de interessante, e é isso que acho que é comum com o Lenine, é a dimensão, é que no pop talvez você seja velho, mas na narrativa, na profundidade, na incisividade de alguns termos também, e numa certa maestria do palco, é uma idade em que já se é maduro para estar em cima do palco e que já se mostra essa maturidade de uma outra forma. E, portanto, não estamos na atividade pelo supérfluo, nós estamos na atividade pelo fundamental. E o Lenine é, para mim, um dos grandes exemplos dessa mudança da MPB, de uma transição de uma MPB que é trazida por grandes nomes, mas há um artista como o Lenine, que projeta a MPB para o futuro… Portanto, é a qualidade que faz com que, quer eu ou quer o Lenine, ao fim destes anos todos, creio eu, continuemos aqui.
A geração do rock brasileiro dos anos 90 se diferenciou daquela da década de 80 por incorporar referências regionais na sua música. Quando você vem com o “Viagens”, vi que ele causou um estranhamento ali de começo, porque também era uma proposta diferente em relação ao que estava acontecendo no cenário português. Foi isso mesmo?
É um pouco isso. A música pop portuguesa sempre se afastou um pouco de uma certa direção pragmática, prática, às vezes agressiva, que o rock tem. O rock é, sobretudo, uma canção de capacidade disruptiva e política também. Eu me lembro do movimento punk (buscando) centrar o rock em um género de uma certa rebeldia em relação ao marasmo. O rock não é música ambiente. O rock não é música de salão. É outra coisa. O rock português não falava de coisas fundamentais como o sexo, e se falasse, era de uma maneira educada, digamos assim. E na realidade (é algo que) faz parte da vida de nós todos. E a própria dureza política também faz parte das vidas de nós todos. E é nesse sentido que trazer para o universo do rock a sonoridade. Uma sonoridade mais dura, mais prática, mais… Sobretudo dançante. Muito dançante. A minha música é, na origem, muito dançante, tem muito balanço. Muito daquilo que falei há pouco da música negra. Eu venho do jazz, venho do funk, com James Brown e com o Prince. E essa alegria era o que faltava. Esse direcionamento era o que faltava. Apesar de haver rock muito bom em Portugal, não havia um certo músculo na música. E eu creio que é a temática, por um lado e, por outro, o som (que fizeram o álbum se destacar). E o Lenine faz o mesmo: essa junção dos elementos elétricos, das guitarras elétricas, mas com a batida, com essa força da batida, isso fez a diferença toda. Quer no meu caso, quer no dele.
Por outro lado, seu disco mais recente, “Espiritual” (2018) é um disco acima de tudo de cantor-compositor. Enquanto ouvia eu pensei no Leonard Cohen.
Sim, sim, sim. Eu entendo e estou muito de acordo, é isso que você disse. A mim interessa me aprofundar a capacidade do songwriter, do escritor de canções. E isso lá está, era isso que eu te falava. A escrita só melhora com a idade. Você vai ver o Manuel Bandeira e no final da vida ele escreve de uma forma ainda mais forte. O Drummond escreve de uma maneira mais poderosa e o Chico, que agora escreve menos música e está mais romanceando, porque é natural, porque há uma necessidade maior da escrita. E a minha escrita, ela está, naturalmente, muito influenciada pela escrita do Cohen, claro, e a do Tom Waits também. Por quê? Porque nós somos barítonos. Eu sou barítono e não dá para ficar lá em cima da banda. Você tem a banda que está aqui, (aponta para uma altura mediana) e aqui tem o vocalista (um degrau acima). O barítono está por baixo, e, portanto, tem que haver uma escrita própria para isso. É uma escrita de storytelling, de contar uma história. E é isso, por exemplo, que está na base da “Balada de Gisberta”, (composição de Pedro gravada por Maria Bethânia) que eu escrevi há 18 anos, ou mais. E eu entendo que a minha mais-valia é, de fato, a escrita. E, como sou barítono, eu tenho que pôr a escrita por baixo, mas depois ela tem que virar por cima e, então, pôr a banda ao serviço do texto. É isso.
Ao vivo como a coisa funciona? Como você dosa o material antigo, mais dançante, com essas canções introspectivas?
Vocês têm uma expressão que eu gosto muito, que é pauleira. O show tem um lado pauleira, porque eu gosto da festa, gosto da dança, do beat. Mas depois tem esse lado poético. Mas se você for ver, a tragédia grega é a mesma coisa. Você expõe o que vai acontecer e aí o pessoal fica esperando. De repente acontece a bagunça, e logo depois tem o epílogo. Portanto, esse contraste entre festa e interioridade é algo dos meus shows, que são fortes e muito poéticos. No Brasil eu não vou levar a banda toda, vou levar parte da banda e vamos fazer um espetáculo que está muito equilibrado entre a festa e essa tal interioridade. Nós estamos vivendo (um tempo) em que é preciso refletir e pensar. E a música é um local de resistência nesse mundo em que estamos todos virando utilitaristas e instrumentos de poder. A literatura, a música, toda a arte, é uma forma de resistir e de contrariar esse ciclo.
“Viagens”, seu primeiro disco, foi eleito pela revista Blitz o melhor álbum português dos últimos 40 anos. Você concordou com resultado? (risos)
Esta expressão, melhor, é sempre… complicada. Porque, se calhar, é o disco mais consentâneo com o seu tempo. Ele transmite muito do seu próprio tempo e faz outra coisa: abre portas para o futuro. Nesse sentido, a arte é sempre um compromisso entre o que está feito e o que falta fazer. E esse disco conseguiu isso. O “Viagens” é um disco que retrata sociologicamente o mundo, o meu país e simultaneamente, consegue tocar a população portuguesa de igual maneira. Portanto, é um disco que fratura, que rompe, que ousa. Ele é diferente e rompe com aquela coisa do fado, da mulher de bigode chorando (risos), o marinheiro que não volta, ele já não tem isso. E que, simultaneamente, ganha o respeito dos portugueses. Portanto, consegue as duas coisas. Tradição com o futuro. Há momentos, há obras que, de repente, capturam o zeitgeist, esse momento do tempo.

Aproveitando o assunto, que discos ou artistas do pop português você recomendaria para um brasileiro que quer entrar nesse universo?
Eu sempre gostei muito dos Heróis do Mar. É um grupo já antigo e com muita atitude. Gosto de quem acrescenta algo. E, no fundo, a arte é isso, é acrescentar, não é fazer o que está feito. Aí você tem os escritores de canções, como o Jorge Palma. Os Ornatos Violeta, lá atrás, também. Eles não têm muitos discos, mas é fundamental ouvi-los. Tem um grupo já veterano, que eu acho que é o melhor grupo de rock português, que é o Mão Morta.
Eles são cultuados aqui por fãs de pós-punk.
E depois há uma série de cantoras novas. A Carolina Deslandes, por exemplo. Há uma garota muito nova chamada Milhanas. Vale a pena ouvir o trabalho dela. Há muitas mulheres entrando com muita força, com boa escrita e boa música. A música portuguesa tem coisas muito interessantes agora para ouvir.
– Leandro Saueia é jornalista e voltou a ser freelance após muito tempo trabalhando em um emprego fixo. Esta entrevista é o primeiro texto publicado do resto de sua vida.

























































![Pensar o pensamento [citação]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ZvYYtzhfcnLs1WpO5l8tZctpyVlqd-LWQfyzHHZaUk_La4JwgNHQD7WQIzZZAe1K7_s-fRM11HwHgsQE1P6RI6ljGjL4qxvTAhtu-repbdB77T85WHgSgsMtp0AzfHrfcAQm04p0pe1oyazc3gelXmoL4pgrtzSMP0n_iycljPLH5HY5q6e47A/w1200-h630-p-k-no-nu/PxC.jpeg)


![A herança de Prince* SOUND + VISION Magazine [FNAC, 26 abril]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqGUfG4jVuCwsYOrbUiu3xPGgVLv6aunh1UguU-9PfWWzYjRzlvf_E0qfLoc3GPVuVyyEopfFfGZuzT3L5KT7-hJNpZKDtxSiJ71E6YjbJiTaf4N8eX9ExEozF2u1EU2zrNq5hZpsh7okylvrqzPgll6-kcVZnyp9ub0kNQlQzqDpLzXMpIpgHA/w1200-h630-p-k-no-nu/POST_4X5_SOUND_VISION_MAG_PRINCE.jpg)













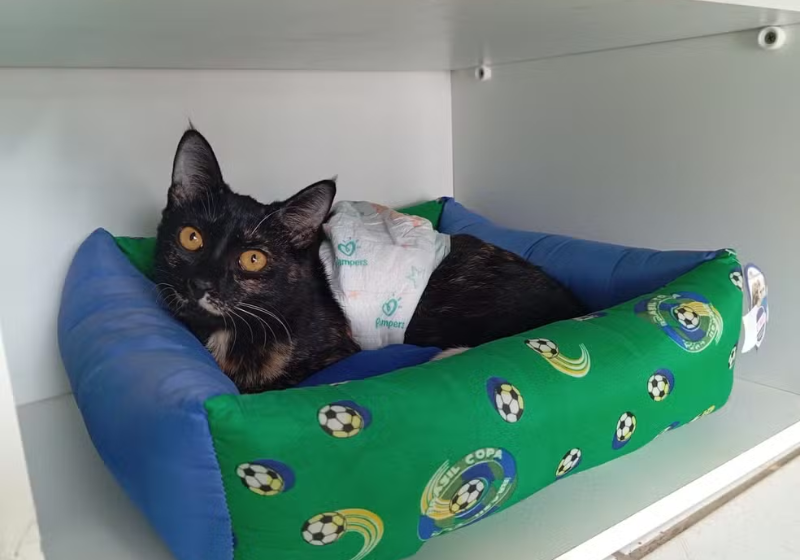






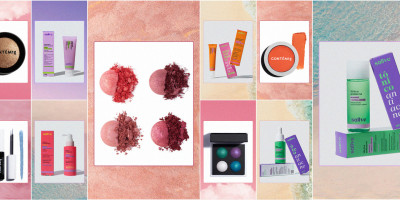


































.jpg)

.jpg)

.jpg)












