Entrevista: Page Hamilton fala sobre a carreira do Helmet antes de show especial no Brasil
Vocalista e guitarrista relembra turnê histórica com o Sepultura em 1992, compara a formação atual com a clássica e revela como o Led Zeppelin e lendas do jazz mudaram a sua vida.

entrevista de Luiz Mazetto
Uma das bandas mais interessantes das últimas décadas, o Helmet é dono de um som único, personificado nos riffs e vocais do vocalista e guitarrista Page Hamilton, principal compositor e único integrante original desde o início das atividades do grupo, em 1989, quando ainda estavam baseados em Nova York – hoje em dia, o quarteto, que conta com Jimmy Thompson (guitarra), Kyle Stevenson (bateria) e Dave Case (baixo), está do outro lado dos EUA, na região de Los Angeles.
Prestes a desembarcar no Brasil para um show único e especial no Carioca Clube, em São Paulo, no dia 30/4, quando tocarão na íntegra o clássico “Betty” (1994), além de hits indispensáveis de outros discos, como “Unsung”, “In the Meantime”, “Ironhead” e “Driving Nowhere”, a formação atual da banda já está junta há 15 anos, mais do que o line-up clássico dos anos 1990, e se mostra cada vez mais afiada tanto nos palcos quanto no estúdio, com o mais recente trabalho, “Left”, de 2023, sendo o mais interessante na discografia desde “Size Matters”, de 2006.
Na entrevista abaixo, Page fala sobre os shows da atual turnê, as diferenças da formação atual para o grupo original, revela a história por trás de uma das principais músicas da banda, relembra a histórica turnê com o Sepultura e o Ministry nos EUA, em 1992, rejeita o rótulo que receberam nos anos 1990 de banda de “metal inteligente”, e ainda conta quais os discos mudaram a sua vida. Confira a seguir!
Assisti a alguns vídeos dessa turnê atual, mais especificamente o vídeo de vocês no Brooklyn e a banda pareceu muito afiada. Vocês estão com essa formação há cerca de 15 anos. Então essa formação já tem mais tempo junta do que a formação clássica com o John (Stanier, baterista) e o Henry (Bogdan, baixista)? Você acredita que possuem uma conexão mais forte agora?
Sim. A gente com certeza tem uma conexão forte, mas é diferente, sabe? É um tipo diferente de conexão. O John e o Henry eram músicos especiais, eu amava o que eles faziam e eles foram responsáveis pelo som da banda, com certeza – junto comigo, obviamente. Mas esses caras que estão comigo agora… em muitos aspectos, eles são talvez um pouco mais versáteis. Eles precisam ser, né? Porque têm que tocar muito mais material. Afinal, já são… nossa, desde 1989 que a banda existe — quantos anos isso dá? Bastante, né? E o John e o Henry, se você pensar bem, a gente ainda estava meio que no estágio inicial, em formação. A gente tinha feito o “Strap It On” (1990), o “Meantime” (1992), o “Betty” (1994) e o “Aftertaste” (1997). Quatro álbuns, só isso. E depois disso a gente fez o “Size Matters” (2004), “Monochrome” (2006), “Seeing Eye Dog” (2010), “Dead to the World” (2016) e “Left” (2023). A gente fez mais álbuns, sabe? O Kyle, o Dave e o Dan não estão no “Size Matters”, nem no “Monochrome”, mas estão nos três últimos discos. Então é uma sensação diferente. Eu amo tocar com esses caras, assim como amava tocar com o John e o Henry também.
Na última turnê por aqui, vocês tocaram em São Paulo e também em Brasília. E o set foi meio que um “best of” do Helmet. E agora vocês estão fazendo, claro, o show focado nos 30 anos do “Betty”. Você enxerga o trabalho mais antigo da banda — vamos dizer, a primeira fase da banda — de uma maneira diferente hoje em dia?
Deixa eu pensar… Acho que hoje eu me sinto mais confiante do que naquela época. Como vocalista e como guitarrista. Mas toda turnê, todo show exige uma adaptação, pra engrenar. Tipo, se você ficou uns dois meses sem sair na estrada, leva um tempo pra pegar o ritmo de novo. A gente vai soar bem – pro público, com certeza. Mas a gente sabe quando está realmente afiado. Eu sei quando estou me sentindo incrível. Normalmente nos primeiros shows eu não acho que toco tão bem quanto poderia. Mas na última turnê pelos EUA, eu peguei um embalo e me senti muito bem. Senti que estava tocando muito bem, em especial na guitarra. Meu vocal estava… razoável. Mas eu peguei um resfriado. Fiquei doente, e isso é muito frustrante porque tem coisas que você simplesmente não consegue fazer. Teve uns shows em que eu estava congestionado e não dava para ter a mesma musicalidade, a mesma expressividade, porque parece que você está batendo de frente com uma barreira na sua cabeça. Mas, sim, de maneira geral, eu adoro quando tudo se encaixa, e a gente acabou de fazer uma turnê bem legal, de quatro ou cinco semanas, e já estamos em casa há algumas semanas, então deveremos estar bem preparados quando formos para aí.

Vocês moram perto uns dos outros, tipo na mesma cidade?
O John e o Henry (da primeira formação)? Sim, com quem eu não falo há 25 anos (risos). Já o Kyle e o Dan moram em Los Angeles. O Dan mora a 7 minutos de mim. O Kyle mora a cerca de meia hora da minha casa. O Dave mora em Long Island, Nova York. O que é, tipo, um outro país. Eles não falam inglês mesmo. É tipo, “Ah, eles, caramba, ei, como vai?” “Sabe, fazer um café, jantar, ir na Broadway”, “E aí, como você está?” (Nota: nesse momento, Page faz uma imitação do que seria esse sotaque). É hilário. Eu adoro.
E quando você está compondo com eles, você costuma fazer demos sozinho e depois marca um tempo, um fim de semana ou uma semana especificamente para se reunir e trabalhar nas músicas?
Sim, geralmente o que a gente faz é se reunir, o Dan tem um pequeno espaço de ensaio, é bem perto e conveniente. É pequeno, mas é ok para nós três. E a gente simplesmente passa pelas músicas, tipo algumas coisas eu tenho demos bem completas. As estruturas vão estar praticamente 90% feitas quando eu levar para a banda. De vez em quando, tem uma música que consiste apenas em partes. É como foi com a música “In the Meantime”. Eu tinha aquelas três partes legais (nota: Page cantarola alguns dos riffs principais da música), mas não tinha a estrutura ainda. Então, quando fomos para o estúdio com o Steve Albini em Chicago, para fazer a demo, apenas para gravar a banda, montamos tudo, pegamos o som e a banda foi para o lounge do estúdio, no Chicago Recording Company, e eu fiquei na sala de bateria, no cubículo de isolamento, e arrumei tudo. Falei, ok, vamos fazer isso aqui, a introdução vai ser tipo “Journey to the Twin Planet”, do Jack DeJohnette, no álbum “Special Edition” (1980). Eles ficaram, “O quê?”. E eu toquei para eles, era só a bateria indo para todos os lados. O Stanier foi realmente incrível em criar essas partes e eu falei “É isso”. Tentamos fazer isso como um quarteto, mas o Peter (Mengede, guitarrista) não conseguiu, então o John, o Henry e eu gravamos a música toda ao vivo e depois eu toquei a guitarra do Peter no amplificador dele e fiz a segunda parte da guitarra. Então, regravamos a música depois de assinar o contrato com a gravadora, mas eu não gostei tanto da nova versão, porque a gente capturou algo na primeira tomada que eu simplesmente amei. Então, sabe, é assim que, tipo, 10% das músicas surgem até hoje.
Falando sobre o “Meantime”, em 1992 vocês fizeram uma turnê bem famosa com Ministry e Sepultura (Nota: em 1994 na Itália, o Helmet dividiu o palco com o Sepultura tocando… Titãs. Max, por sua vez, já regravou “In The Meantime” com o Soufly). Vocês tocaram em todo os EUA, foi algo que misturou muitos estilos diferentes, algo que talvez não acontecesse tão abertamente hoje em dia para um público tão grande – na época, as bandas chegaram a tocar no Madison Square Garden em NY. Quais são suas lembranças de conhecer o Max e o Iggor? E como foi sair em turnê com as três bandas juntas?
Eu acho que é uma pena que as pessoas precisem subdividir tanto os gêneros musicais, porque aquela foi uma turnê realmente divertida e eu achei que foi uma ótima combinação de bandas. Eu nunca tinha ouvido o Sepultura até aquele momento e eles foram fantásticos e… você sabe, eu conhecia o Ministry e eles também foram incríveis. Foi uma época realmente legal, muito legal na música. Acho que depois fizemos uma turnê com o Beastie Boys e alguns shows com o Sonic Youth na Austrália. Todos esses gêneros musicais distintos, se é esse o termo certo, se encaixaram bem. Eu acho que as pessoas deveriam ser apenas fãs de música. A gente, no Helmet, nunca teve uma estética de moda, se essa é a palavra certa. A gente usava o que se sentia confortável. As pessoas diziam, “Ah, isso é uma estratégia de marketing”, e eu dizia, “Acredite em mim, não é”. Eu tive cabelo comprido nos anos 1970. Eu sou um homem velho agora e, meu pai me dizia, “Hora de cortar o cabelo”. E eu, “Ah, caramba”, você sabe, eu tinha 16 anos, tentando deixar crescer e tal. Então, na época dos anos 1980, eu cortei o cabelo. Não, tipo, não tenho mais cabelo, mas, sabe, então… Eu vejo bandas e elas são muito, muito, muito focadas na aparência e estão tocando com Les Pauls porque é o padrão do rock, e têm cabelo longo e fazem os movimentos e… Tudo bem, isso é normal. Mas isso não funciona para mim. Eu sempre só pensei em plugar a guitarra e tocar. Eu não me importo com a aparência, nem com o que você usa. Eu realmente não me importo. E algumas pessoas se incomodam com isso. Então eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Ministry, por exemplo. Não lembro de nada sobre o visual deles, mas lembro que todos estavam vestidos de preto. Eu lembro da esposa de um dos irmãos Cavalera, ela era a manager deles e estava junto na turnê. Eu lembro do guitarrista, acho que seu nome era Alex. (Nota: Eu o corrijo e digo que era Andreas). Sim, sim, sim! Um grande guitarrista e um cara super legal. E, sabe, fiquei triste porque eles se separaram, não sei o que aconteceu, mas eu me diverti muito nessa turnê, de verdade.
Então, você estava falando sobre ter cabelo curto e não ter aquele visual meio metal, sabe? Você já se incomodou, especialmente nos anos 1990, com esse rótulo, tipo… de ser chamado de banda de “metal inteligente” e essas coisas que as pessoas escreviam sobre vocês na imprensa, também pelo fato de você ter formação em jazz e vocês possuírem várias músicas com tempos mais “estranhos”.
É, sabe, nunca me incomodou, mas… existe esse mal-entendido sobre mim, ou sobre a gente. Uma vez, o John Stanier — alguém falou pra ele essa expressão, tipo “thinking man’s metal” (Nota: algo como “metal para pessoas pensantes”, em tradução livre). E ele acabou repetindo isso numa entrevista, e aí pronto, a gente ficou preso nesse rótulo, sabe? Tipo: “Ah, é metal inteligente”. E eu pensando: “Sério? Tá bom, então…”. Quando a gente saiu em turnê com o Guns N’ Roses em 2006, quem abria era o Suicide Girls, depois vinha o Sebastian Bach, do Skid Row, depois o Helmet, e por último o Guns. Mais tarde a gente trocou, porque o Sebastian pediu pra tocar logo antes do Guns no Canadá, já que ele é de lá. E eu falei: “Por mim, tudo bem — contanto que o pagamento seja o mesmo” (risos). Depois disso, falei pra manter assim mesmo. A gente estava num ginásio de hóquei, e dava pra ouvir as coisas porque tinham aquelas portas grandes de correr, tipo de vestiário. A gente estava em um, e eles no outro. Aí o Sebastian entrou na nossa sala e eu estava lendo, e quando ele saiu, ouvi ele falando: “Esse cara é legal, ele é rockeiro como a gente.” (Nota: Nesse momento, Page faz uma imitação surpreendente da voz de Bach) E acho que as pessoas têm esse mal-entendido sobre mim, acham que eu sou tipo um cara sentado de cachimbo e lenço no pescoço, falando: “Sim, sim, eu toco jazz”(risos). E cara… eu sou tão “idiota” quanto qualquer outro cara que gosta de heavy metal, sabe? Pra mim isso sempre foi engraçado. Engraçado que algumas pessoas até se ofendem porque a gente não ligava pra moda, não fazia pose. Tinha uma galera na Inglaterra que achava que você precisava cumprir esse papel, ser um certo tipo de pessoa pra ser uma estrela do rock. E eu sempre fui: “Eu não tô nem aí.” Eu sou muito bom no que eu faço. E se as pessoas nunca tivessem me visto, ou se não soubessem que eu tenho um mestrado em jazz… o que elas iam pensar? Muita coisa vira esse exagero de imprensa, sabe? E no fim das contas, é uma bobagem.
Gostaria que você me dissesse três discos que mudaram a sua vida e por quê. Não precisam ser os únicos três, porque eu sei que isso é impossível — mas três dos discos.
Ah… bom, tem que ser, tem que ser o “Led Zeppelin IV” (1971). Esse foi o disco que me fez querer tocar guitarra. “Stairway to Heaven” e “Black Dog”. “Black Dog” foi a primeira música que eu ouvi e aquilo explodiu minha cabeça. Ainda explode, na verdade — é um álbum perfeito. Então esse, com certeza.
Depois, eu diria o “Kind of Blue” (1959), do Miles Davis, porque foi ali que eu descobri Bill Evans, John Coltrane, Cannonball Adderley, Miles, Philly Joe Jones, Paul Chambers… toda aquela banda. E aí eu acabei comprando discos de cada um daqueles caras. Isso meio que expandiu meu conhecimento de jazz.
E, por fim, eu diria “A Love Supreme” (1965), do John Coltrane, porque esse disco… acho que é talvez o maior exemplo de… a gente poderia chamar de modal jazz, né? Ele pegou aquele conceito do “Kind of Blue” e compôs essa suíte musical que é tão poderosa, emocional… tecnicamente é complicado? Sim, o que ele faz ali é de outro mundo. Mas você não precisa ter um diploma em jazz pra entender. Você pode simplesmente colocar pra tocar e absorver aquela energia, aquela força, aquela paixão. E pra mim, isso é o que a música deveria ser — você fechar os olhos, ouvir e ser levado pra outro lugar. Esse disco, pra mim, ainda é uma das experiências mais especiais. Ele tem, sei lá, uns 20, 30 minutos, lado A e B. Então, acho que esses três.
Mas claro — tem mais uns 20 discos que eu poderia citar. Tipo o primeiro disco do America (de 1971), com “A Horse with No Name”, que mudou minha vida. O “Rubber Soul” (1965), dos Beatles – meus primos tocaram esse disco pra mim e eu fiquei: “O que é isso?!”. Tentando entender. Tem muitos. “Highway to Hell” (1979), “Powerage” (1978) — esses dois do AC/DC eu ouvi tanto que até gastei o vinil. “Sabbath Bloody Sabbath” (1973)… o melhor, o melhor. Aliás, acabei de ser convidado pra participar de um projeto sobre o Tony Iommi. A Gibson vai fazer um vídeo e me chamaram pra participar. Eu ainda não respondi, mas claro que vou fazer. Porque é tipo… o maior riff de heavy metal de todos os tempos. É perfeito. Então é isso… muito difícil escolher só três, mas aí estão.
Última pergunta: você está à frente do Helmet há quase 40 anos. Influenciou toneladas de bandas — de Deftones e Korn a Sepultura e até o Anthrax nos anos 90. Tocou pelo mundo todo. Do que você mais se orgulha na sua carreira?
O que eu mais me orgulho é de ter sido honesto. De ter feito música… por causa da música. Eu nunca fiz isso com o objetivo de ficar milionário, ou de ficar famoso, ou pra… sei lá o quê. Eu sempre fui muito honesto com o que eu faço — e continuo sendo. Eu ainda sou extremamente dedicado à música. Todo dia eu acordo e é nisso que eu penso. Tipo, eu tô aqui agora com a minha… essa é minha nova bebê — uma ESP de 1985. Então, estou aqui com ela e também com minha Washburn, afinada em D-D, porque estou escrevendo um disco solo. Então, é isso. Acho que o que mais me orgulho é de ter sido honesto. E de não estar tentando passar ninguém pra trás.
– Luiz Mazetto é autor dos livros “Nós Somos a Tempestade – Conversas Sobre o Metal Alternativo dos EUA” e “Nós Somos a Tempestade, Vol 2 – Conversas Sobre o Metal Alternativo pelo Mundo”, ambos pela Edições Ideal. Também colabora coma a Vice Brasil, o CVLT Nation e a Loud!































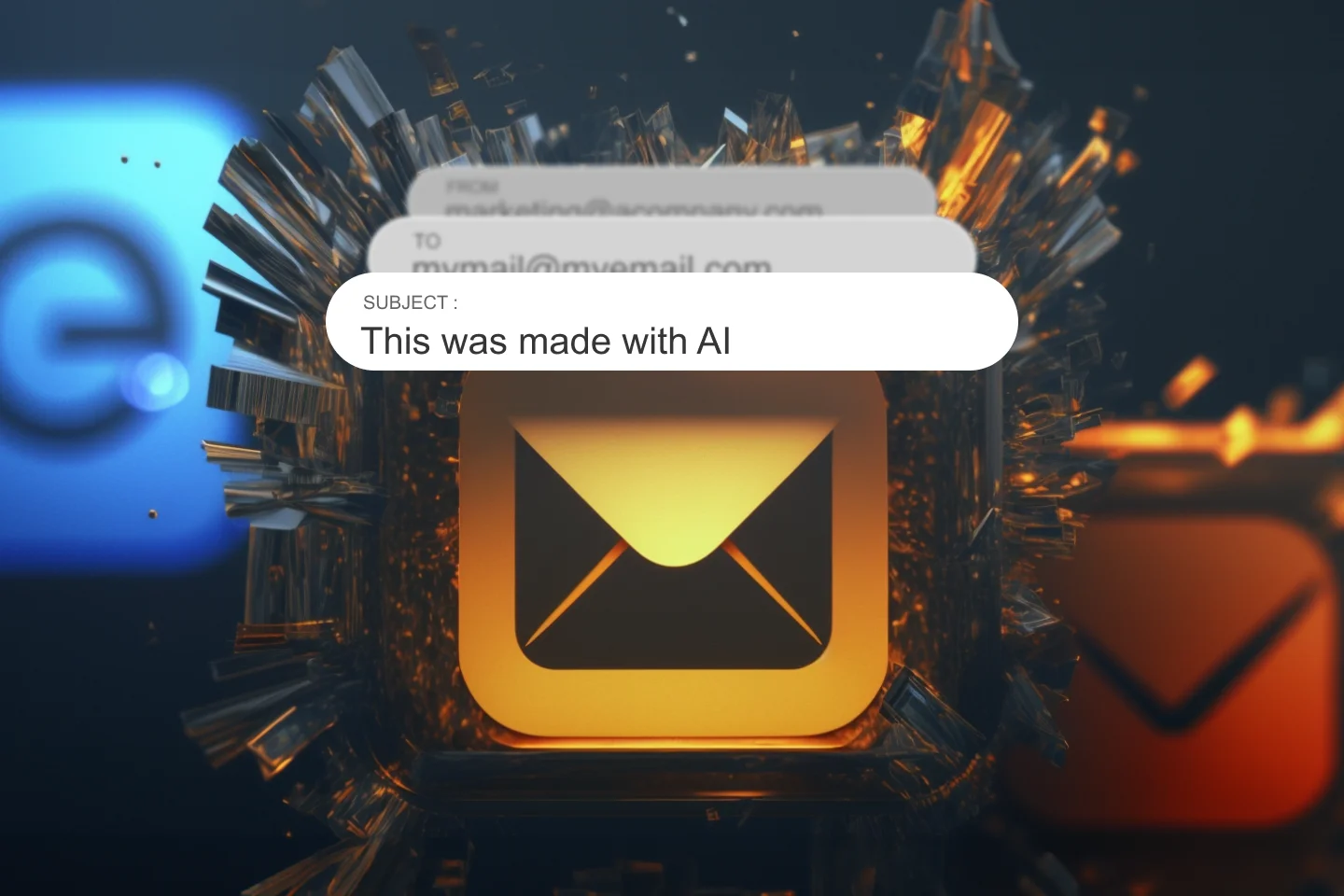






































































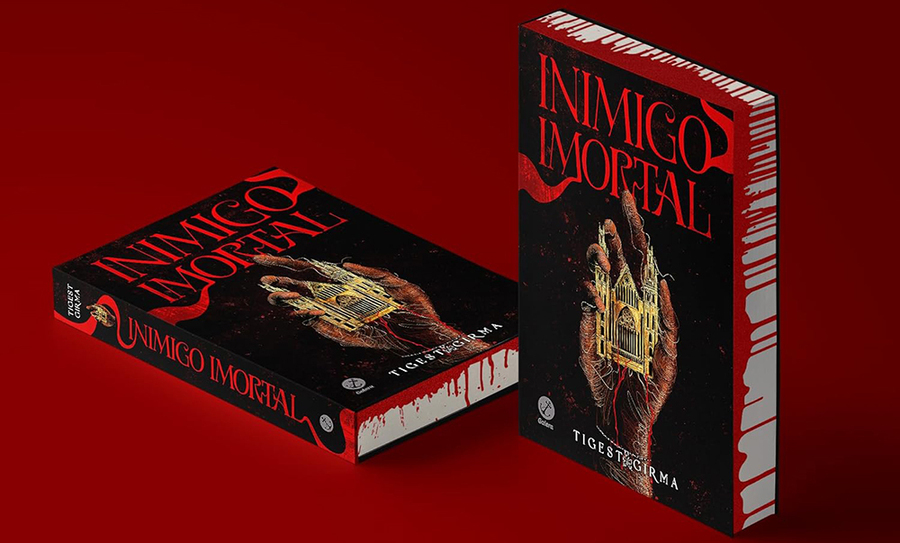














































.jpg)
.jpg)

.jpg)


























