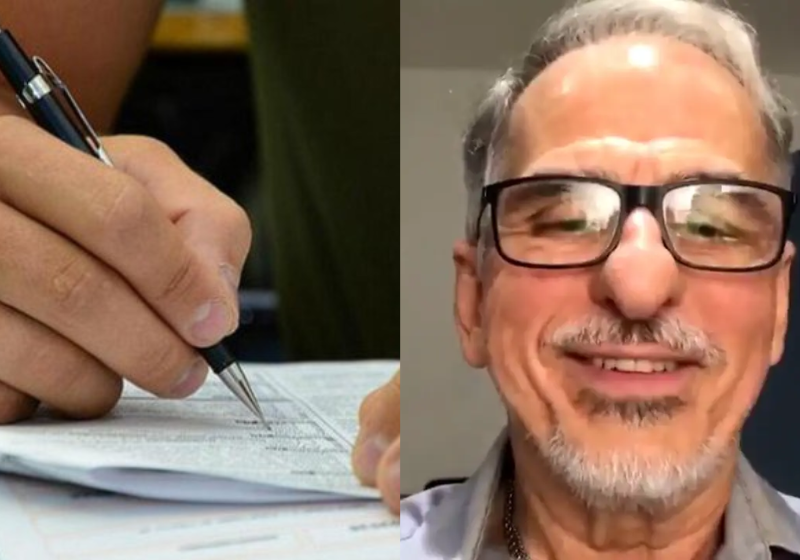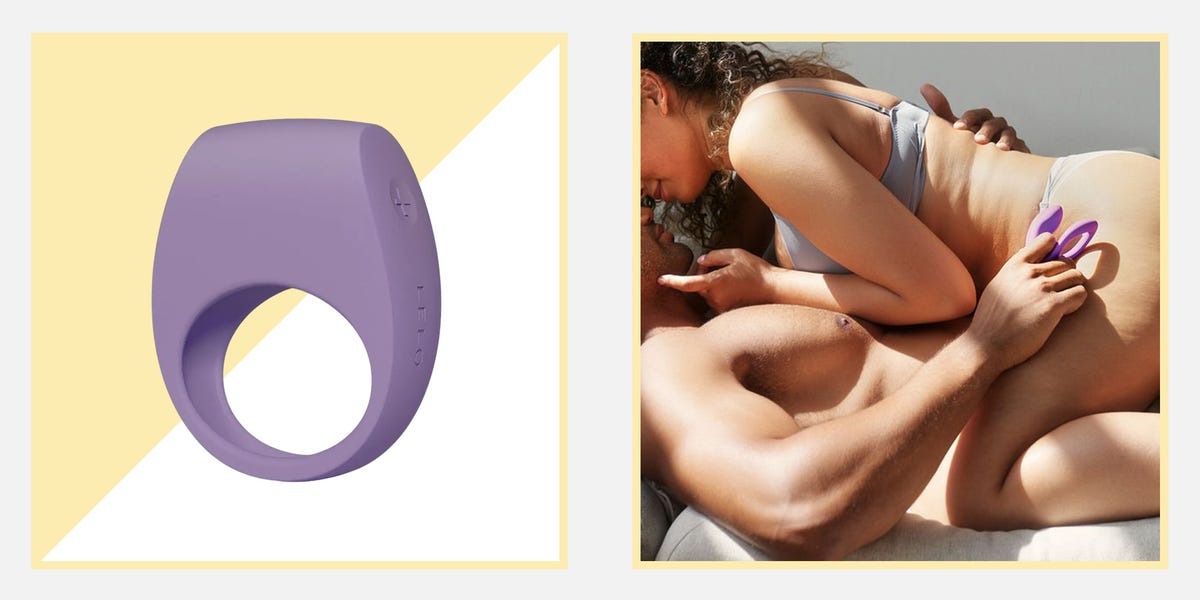Entrevista: The Completers, banda post punk gaúcha, fala sobre seu álbum de estreia
O disco traz 10 temas de tendência melancólica criados no mais puro etos punk do faça-você-mesmo por Felipe Vicente (vocal, guitarra e sintetizador), Jonas Dalacorte (guitarra), Lucas Richter (baixo) e Guilherme Chiarelli Gonçalves (bateria e pads)

entrevista de Homero Pivotto Jr.
Colocar na rua um álbum completo está entre os anseios mais comuns de quem tem banda. Logo, a trajetória do quarteto post punk porto-alegrense The Completers vai se completando com a chegada do disco oficial de estreia. Marcando a primeira década de existência, que se completa em 2025, o grupo lança seu debut autointitulado. O trabalho está disponível nas plataformas digitais e é ofertado em CD, LP e K7 (pedidos aqui). No domingo (31/3) rola show oficial para celebrar o novo trampo, no tradicional Bar Ocidente, na capital gaúcha, junto com a Supervão.
A gravação apresenta 10 temas de tendência melancólica criados e gravados no mais puro etos punk do faça-você-mesmo por Felipe Vicente (vocal, guitarra e sintetizador), Jonas Dalacorte (guitarra), Lucas Richter (baixo) e Guilherme Chiarelli Gonçalves (bateria e pads). Com base em uma elegância melódica sem exageros na execução, as faixas agregam experimentalismo, krautrock e toques eletrônicos. São sons pra dançar no vale das trevas, pra chacoalhar o esqueleto com consciência de classe nesse inferninho que se tornou a existência.
‘Past Year’, segunda faixa do registro, foi escolhida como single e ganhou videoclipe dirigido por Theo Tajes, sendo um ótimo cartão de visitas. “Essa foi uma das últimas músicas que fizemos e, quando a finalizamos, foi unanime que ela tinha cara de single, que deveria ser usada para iniciar a divulgação do álbum”, relata o baterista Guilherme.
A produção do disco ficou sob a batuta dos próprios integrantes, e a mixagem é assinada pelo guitarrista Jonas. Para a masterização, foi recrutado o estadunidense Carl Saff (que já trabalhou com Sonic Youth, Dead Moon, Wipers, Mudhoney e Fu Manchu). A arte da capa é de Renato Ren, que colocou a estética funcional da Bauhaus (a escola de arte, não a banda) a serviço da sonoridade dos gaúchos.
Completam a discografia da Completers dois singles e um EP em vinil 7″: “Silence b/w Be Gone” (Yeah You!, 2017), “Unspoken Signals” (Thrash Unreal Records, 2018) e “End b/w Parallel Lines” (Yeah You!, 2020).
Na entrevista a seguir, feita presencialmente após ensaio num dia de calor escaldante, os quatro músicos refletem sobre o atual momento – individual e musical – e como as personalidades de cada um se completam na banda. Em pauta: a jornada até aqui, a satisfação com o resultado da obra, elucubrações sobre post punk e as alegrias & agruras do submundo dos artistas independentes.
Os integrantes da The Completers vêm de um histórico de outros projetos mais extremos, principalmente hardcore e power violence. Como rolou essa aglomeração em torno de uma banda post punk?
Jonas – Eu, o Lucas e o Guilherme tocamos juntos antes, acho que 2011 ou 2012. Mas era som mais extremo. Aí, por volta de 2015, o Guilherme mandou um e-mail convidando pra nos juntarmos novamente, mas fazendo algo diferente. Não tinha a definição de qual sonoridade exatamente.
Guilherme – A gente já tinha tocado em outras bandas em algum momento. Tipo: eu e o Lucas em algum projeto, o Jonas e o Lipe em outro. Lá por 2012, eu, o Lucas e o Jonas montamos um trio. A gente tinha ouvido o compacto do Sugar Pie Koko e piramos! “Ah, vamos fazer um som assim!”, que é um power violence, um crust. Ficamos só ensaiando, acho que era uma fase em que a gente meio que estava também sem outras bandas. Daí, em 2015, estava rolando, em nível mundial, uma cena de bandas punks tocando com chorus (pedal de efeito), influenciados por The Wipers. Tipo o Warsong, na Espanha, Nervosas, nos Estados Unidos.
Jonas – The Stranged, de Portland.
Guilherme – Isso! Toda essa galera de Portland ou influenciados por nomes de lá. The Stops também. Enfim… nossa ideia era fazer punk com chorus. Tocamos por um ano como trio instrumental, pois não achamos ninguém pra assumir o microfone. Aí apareceu o Lipe, que tinha ficado sem banda, e o chamamos. Ele disse que não estava a fim de cantar, queria só tocar guitarra. Só que ele caiu na nossa armadilha. Tocou guitarra no primeiro ensaio, aí no segundo cantou alguma coisa. E a gente: “ó, temos vocalista”! (risos)
Felipe – Foi no segundo ensaio que tivemos o primeiro escopo de um som. Foi ‘Silence’, que já tinha uma versão feita por vocês, e acabamos remoldando ela.
Lucas – A banda não surgiu com a proposta de ser post punk. Era meio punk rock com chorus. Com a entrada do Lipe, fomos reduzindo gradativamente o bpm das composições e acabou indo pra esse lado.
Guilherme – Foi algo natural. O Lipe que propôs: “vamos tentar tocar essas músicas que vocês já têm um pouco mais lentas pra ver o que se aproveita”. Ele meio que deu a coordenada. E nisso a gente começou a ouvir outros sons. Por exemplo: explorar mais a carreira do The Cure, Joy Division, The Sound, Wire… E isso influenciou o que estávamos tentando fazer naquele momento.
Lucas – Eu, até então, nunca tinha ouvido muito post punk pra além das bandas mais clássicas. Fui conhecer com a Completers, com as referências pra banda e com esses três parceiros que foram lançando sugestões. Daí fui conhecendo e me interessando mais. Pra mim, o início da Completers meio que coincidiu com o meu conhecimento mais a fundo de artistas com esse rótulo.
Por que acreditam que o post punk, usado aqui como uma expressão guarda-chuva para sonoridades mais melancólicas e ou de tom nostálgico, tem esse apelo fora do próprio nicho? Tipo: galera do som extremo curte, do rock mais tradicional e até gente que tem gostos mais pop.
Felipe – Fazendo gancho com a questão anterior… Acho que, antes de eu começar a tocar com os guris, a banda era uma parada muito mais rápida e agressiva. E, conforme o tempo foi passando, a parte experimental aflorou, e isso acaba fazendo com que mais pessoas possam gostar. Pelo lance de ter um som mais viagem, mais lento e até algo com pegada um pouco mais pop. Esse direcionamento abre portas e faz com que o público perceba nossa música de uma maneira diferente, não tão punk, não tão rápida, nem tão gótica. Falando nisso… É doido que tem pessoas do rolê gótico mais tradicional que gostam da gente, nos convidam pra tocar em festas bem nichadas. É engraçado, porque, considerando o modo de vestir, somos mais simples. A experimentação também colabora pra ter apelo fora da bolha. O lance de, em uma hora fazer um som mais rápido, em outra um som mais experimental ou eletrônico, talvez mais garagem, mais punk. Isso acaba sendo meio que eclético dentro de um mesmo estilo.
Jonas – Imagino que o post punk abraça vários grupos. Talvez a galera do metal, do som mais extremo, curta isso pelo clima das músicas, falando meio que tecnicamente, do sentimento que passa. Aí quem curte algo mais pop, entre aspas, talvez seja pelo apelo dos The Smiths e The Cure da vida. Se eu paro e penso muito sobre isso, não consigo achar uma resposta. Tipo, é uma loucura, basicamente.
Lucas – Pessoalmente, o que me atraiu foi o lance um pouco mais melódico. Eu ouvia muita música extrema, muito punk rock, e o que me abriu pro post punk foi a questão dos efeitos e, principalmente, da melodia. De as músicas terem uma melodia um pouco diferente do que eu estava acostumado a ouvir.
Guilherme – Somado a isso que os guris falaram, tem a parada de o post punk trazer também um sentimento de nostalgia, de uma época que às vezes as pessoas nem viveram, mas remete a algo. Tipo: “meu primo ouvia um som parecido com esse que eles fazem e tal”. Também soma na resposta o fato de que, nos anos 1980, muitas bandas de metal e punk em algum momento viraram post punk ou hard rock. Pega o Ministry, por exemplo, que começou mais post punk e foi para o industrial. O Riistetyt teve uma fase post punk, o Discharge virou meio glam.
Jonas – Outra doideira também, pensando mais no Brasil, que várias galeras entram no mesmo balaio, porque o som é “dos anos 80”. E, no resto do mundo é post punk. Talvez seja pelo advento da tecnologia, batera com samples, sintetizador, toda essa porra assim. Artistas dessa época foram pra esse lado de experimentar coisas novas, com novas tecnologias.
Felipe – Nosso som acaba sendo meio que esse resgate dos anos 1980, que querendo ou não são muitas pessoas que gostam. Existe o post punk nos anos 1980, um rock mais anos 1980, um eletrônico anos 1980. O próprio New Order veio do post punk e foi para o eletrônico. Então acho que tem esse resgate da galera que gosta de som dos 1980 que curte a Completers.

O post punk é um termo genérico, e até bem eclético dentro das próprias convenções. Com ele, bandas exploraram a própria inventividade, historicamente. Esse experimentalismo talvez tenha libertado muita gente, estimulado as pessoas a se permitirem musicalmente dentro do rock e seus subgêneros.
Lucas – Tive muitas fases rigorosas de gosto musical. Comecei ouvindo Green Day e Offspring. Aí, via o encarte dessas bandas e ia atrás de outras que tinham ali. Fiz o meu gosto no hardcore californiano. Depois só queria ouvir punk em português. Era só Olho Seco, Cólera e Ratos de Porão. Deixei de escutar o que eu curtia antes e foquei nisso. Teve também a época que foi só anarcopunk, tipo Sin Dios, Los Crudos… Era um negócio ou outro, né? Não agregava em nada.
Jonas – Tem a idade também, que faz com que a gente vá se abrindo.
Lucas – Pouco antes de ir fundo no post punk, me permiti revisitar todas essas outras fases anteriores sem preconceitos e restrições. Quando o post punk apareceu, chegou como uma consequência disso também.
Jonas – Permitir-se resgatar coisas que o cara ouvia em outros momentos sem preconceito ou ouvir coisas novas que tu tinha preconceito, agrega demais pra fazer um som novo. Tive uma fase, por exemplo, no meio da Completers, em que eu só ouvia reggae. Inconscientemente isso aparece em algum som.
Felipe – Tudo acaba virando referência, né? Às vezes o cara puxa umas influências que nem músicas são. O lance de escrever letra acaba abrindo mais ainda a possibilidade de referências. “Ah, um som sobre isso não pode ser feliz, tem que ser triste, tem que ter uma atmosfera dark, tem que ter uma atmosfera mais pra cima, mais pra baixo”, sei lá. Acho que acaba tendo essa percepção mais abrangente. Questões políticas, pessoais, relacionamentos e até uma fantasia, às vezes.
Guilherme – Quem sabe quando o disco sair as pessoas também se deem conta de que talvez o som não seja tão post punk, né? Talvez eles percebam que tem outras influências ali.
O artista é sempre cuidadoso em classificar a própria obra dele. Mas ouvi o álbum e achei bem post punk (risos). Talvez a produção. Tem um quê de sombrio marcante, mas, ao mesmo tempo, está palatável. Está tipo som pra dançar nas trevas.
Lucas – A minha percepção é de mais elementos experimentais que nos anteriores. Então, vejo muito essa coisa mais experimental.
Tem uma leva de artistas que foram tachados post punk no passado que, agora, em retrospectiva, tu percebes que faziam umas doideiras, mas ainda assim conseguiram ser pop. Riffs de guitarra incomuns, por exemplo. O próprio Talking Heads, que teve em evidência recentemente com o relançamento do filme “Stop Making Sense”.
Lucas – Nosso disco tem detalhes de guitarra que mudam muito a música. Ressaltou que a bateria e o baixo são mais simples e, as guitarras, cada uma vai pra um lado. E isso agrega camadas importantes para as composições.
Guilherme – Apesar de as músicas desse álbum terem sido compostas entre 2016 e 2019, teve todo um processo de amadurecimento delas durante a gravação. Creio que isso acabou somando.
Jonas – Até na pós-produção do disco, na real, rolou isso. Como nós mesmos gravamos e lançamos, houve mais liberdade pra tentar várias coisas que, talvez, se tivesse alguém de fora, não rolaria. Tipo, tentar botar cinco, seis guitarras uma em cima da outra. Ou o Guilherme gravar uma parte de uma guitarra só pra ver como fica. Foi sem restrição mesmo de pode ou não pode, de se prender ao estilo do post punk.
Felipe – Tu comentou sobre o lance de dançar nas trevas. É meio isso. No momento atual que a gente vive, que é ladeira abaixo, isso é importante. Essa forma de expressão dentro do post punk encaixa meio que perfeitamente. Porque eu sinto que a gente está numa decadência como seres humanos e, de alguma forma, encontra uma maneira de dançar nesse fim de mundo. O estilo de som, essa névoa que paira sobre gênero, das letras também, é meio que nessa pilha de continuar alimentando a cultura no mundo decadente. É massa esse lance de dançar, de se divertir, no apocalipse.
Falando nisso, a música é meio que uma tábua da salvação pra vocês?
Jonas – Desde o princípio, quando tive contato com o punk e percebi que dá pra fazer qualquer coisa. Se eu gosto de ouvir algo, sei que posso fazer também. A partir desse momento, nunca mais pensei sobre a questão. É uma necessidade fisiológica na minha vida. Posso comer miojo todos os dias, mas vou juntar dinheiro pra poder ensaiar. Fico doente se eu não puder tocar. É terapêutico, tu joga pra fora os demônios.
É difícil explicar pra quem não faz som, porque a música é uma linguagem não verbal. E, de alguma forma, a sensação é isso mesmo: colocar o que incomoda pra fora. Expurgar.
Lucas – Pra mim é uma mistura de precisar, mas também de gostar muito do resultado, do que se está fazendo. Eu escuto as músicas da Completers e acho legal, é algo que eu ouviria. Me dá orgulho e prazer. E, ao mesmo tempo, tem a necessidade física, que é o que o Jonas está falando, que é terapêutico. Estar com os amigos tocando é muito bom. Já tive muitas bandas simultâneas, hoje em dia estou tocando em duas. Pela idade e compromissos da vida a gente vai direcionando os esforços, as energias e o tempo necessário. Afinal, tem que dividir com outras atividades. Todo o tempo em que estou com os guris, com essa banda, pra mim, é muito importante. É produtivo. Se as outras pessoas vão gostar, há possibilidades, mas se não curtirem, vou continuar fazendo igual.
Guilherme – Além de ser um remédio pra nós mesmos, chega um momento que a gente quer compartilhar isso com outras pessoas. Dá vontade de trocar experiências com quem está assistindo, com outras bandas, sair em turnê. Não pra ganhar dinheiro, mas, pra ver um amigo teu que mora longe, mostrar o que tu tá fazendo pra ele, ele te apresentar o projeto que tem na cidade dele. Isso acaba alimentando a alma. A gente quer fazer essa troca, fazer um disco, transformar aquelas músicas em algo concreto e material pra posteridade.
Lucas – Tem um carinho envolvido em tudo que está sendo produzido. Não sei se todas as pessoas percebem, se isso consegue transbordar na nossa música, mas pra nós é inegável. Há um cuidado, uma dedicação que a gente faz com o maior prazer.
Felipe – Costumo comentar que a formação que a gente tem, tanto por tempo de amizade, quanto com relação de banda profissional, meio que é banda dos sonhos pra mim. No sentido de amadurecimento, de objetivo, acho que quase tudo. Como qualquer relacionamento, em alguns momentos, tem divergências.
Jonas – Mas até a resolução dos conflitos é tranquila.
Felipe – Acho que é muito sobre esse lance de entender que somos quatro pessoas. E tem isso que o Guilherme comentou, de a gente ir pra um lugar tocar e conhecer o movimento desse local, conversar com alguém que nunca conversou… Isso é um resgate de energias. É muito bacana chegar no infinito do mundo e ver que tem um cara que está batalhando pelos mesmos ideais, que pensa parecido. Mesmo antes de a internet existir, a música promovia essa comunicação, juntava pessoas com ideais parecidos.
Jonas – Ir pra outra cidade e perceber que uma pessoa que tu nunca viu na vida, e que provavelmente nunca teria visto, compartilha algo contigo justamente por uma coisa que tu fez porque precisava fazer. Isso pra mim até hoje, 20 anos tendo banda, ainda é surreal. Perceber como a música toca as pessoas. O punk é maravilhoso.
Sim! E isso é algo que transcende a música, que envolve questões subjetivas. Por isso pergunto: como essa bagagem do punk que vocês tiveram anteriormente se manifesta na Completers pra além do som?
Jonas – A gente mesmo gravou o disco, por exemplo, que é algo bem faça você mesmo. É autonomia em relação a tudo, basicamente. O etos é a locomotiva da vida.
Guilherme – Acho que a parte de letra, o conteúdo, nas entrelinhas tem alguma coisa de punk, de contestação. O Felipe pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas, como o Jonas comentou, nós que produzimos o disco, o Jonas mixou, a Yeah You, que é o meu selo, está lançando. Nós que fizemos toda a correria burocrática, entramos em contato com alguém pra masterizar, achamos fábrica pra prensar. Foi a gente que contatou o artista Renato Ren, lá do Espírito Santo, pra fazer a arte da capa e do encarte – algo que rolou por meio de contatos vindos da cultura punk, no caso com o Mozine (da Läjä Records, Mukeka di Rato, Merda), que fez a ponte pra nós. Além da música, tem outras formas que o punk se manifesta na Completers hoje. Seja no disco, na produção de shows também, totalmente independente, na correia pra fazer camiseta e vender em show… Tudo isso é herança do punk. Não esperar que alguém chegue e faça, nós mesmos fazemos.
Jonas – Criar uma movimentação em torno de pessoas próximas da gente, até financeiramente, ter um retorno pra quem passa perrengue conosco.
Lucas – Até nas coisas menores, nos conflitos entre os quatro da banda, que são resolvidos de forma madura e rápida. Acredito que isso tem muito do punk também, da consciência, da bagagem que cada um traz pra conseguir resolver os problemas que até fogem da banda, questões pessoais que acabam estourando no grupo. É uma maturidade, de forma generalizada. Percebo que a cabeça dos quatro está muito alinhada e focada pra banda também.
Felipe – Tem a pilha de o punk ser um lance que faz o cara pensar diferente, né? Molda muito. Não sei se molda é a palavra certa, mas faz pensar na questão da contracultura, da contestação, da esquerda mais à esquerda. Acaba sendo um ciclo que se autocompleta, no sentido de começar a ouvir punk, ter uma banda e alinhar teu estilo de vida à filosofia e à crença punk, à contestação. Aí se descobre uma banda que canta exatamente o que tu sempre quis falar, te dando caminho pra fazer o mesmo. Tem relação com a postura diante da vida. Tendo participado do movimento, não consigo me enxergar sem fazer um som, sem compor alguma coisa que tenha a ver. Como é algo que vai além da estética musical, pode ser até algo que pareça Milton Nascimento com uma temática de contestação. E também acho que o respeito sobressai, a admiração que a gente tem uns pelos outros.
A impressão que dá é que a Completers busca uma profissionalização, apostando em qualidade dos materiais e juntando profissionais de outras áreas pra trampar junto. Procede?
Lucas – Diria que sim. A relação que a gente tem é muito boa, o som que a gente faz, na minha visão, é legal. Curto ouvir as músicas, gosto de estar com os caras, de ensaiar, de gravar, de sair para tocar. Tudo parece ser bom, então por que não levar adiante? Por que não tentar fazer tudo com o máximo de carinho possível e se esforçar pra que a gente consiga fazer bem feito? É uma dedicação que a gente coloca sem tanta expectativa, mas cientes de que pode render, porque a gente acredita e gosta do que faz.
Felipe – Tem a parada de que é um trampo, é um trabalho, mas não é um emprego, sabe? É um trabalho porque a gente quer fazer e é, de fato, um trampo. É trabalhoso! Sair de casa com 40 graus para um ensaio, carregando um monte de equipamento, depois de um dia cumprindo papel num emprego, é um corre. Tem de ter vontade. Existe ainda o questionamento de o que é fazer dar certo. Penso que os alcances que temos tido comprovam que, cada vez mais, dá mais certo. Às vezes eu costumo pensar que, sei lá, se por algum motivo a banda acabasse agora, já teria dado certo. É muito legal ver gente se identificando com algum pormenor da banda, com uma guitarra, com um efeito de batera, com uma letra, com um sentimento qualquer.
Guilherme – O profissionalismo não é a causa, mas talvez seja uma consequência. E esse lance de ter apoio também tem a ver com o punk, com o faça você mesmo. Mas pra fazer, dependemos desse suporte de pessoas próximas que se identifiquem com o que a gente tá criando. Tem o Wender Zanon e a Luiza Padilha trabalhando com gente na parte de contatos, cuidando da agenda e produção de shows. Gravamos um clipe com o Theo Tajes…. Estamos sempre agregando pessoas no nosso trabalho. Queremos compartilhar com quem se identifica.
Uma curiosidade: a banda se paga?
Guilherme – Temos um caixa, mas tentamos não mexer nessa grana. Tipo, ensaio tiramos do nosso bolso. As economias ficam pra viagem, gravação. Por exemplo: o álbum foi o Jonas que gravou. Foi um trampo dele, a gente pagou do caixa da banda. Queremos valorizar também o trabalho dessas pessoas que estão somando conosco. Em uns momentos o caixa está saudável, em outros não. Pegamos esse dinheiro pra fazer camiseta, pra ajudar nos custos de shows fora. Uma vez por ano a gente tira a grana do Spotify, que não é muito, mas, como é em dólar, convertido dá uma engordada. O vídeo (para o single “Past Year”) mais recente zerou o caixa.
Por que só agora, com uma década de estrada, lançar o primeiro álbum completo?
Guilherme – É um projeto que tínhamos desde o início, tanto que em 2017 saiu o que seria o primeiro single, ‘Silence’. Se não fosse a pandemia, teríamos lançado antes. Mas aí atrasou tudo. Na crise sanitária disponibilizamos outro single, ‘End’. Nosso plano era, uns meses depois, ter o álbum pronto, mas não rolou. Na sequência teve o tempo de a gente voltar a ensaiar, se entrosar novamente. Retomar de onde a gente parou, relembrar algumas coisas que estávamos compondo para o disco. Eu perdi completamente o senso de sociabilidade, saia na rua e não conseguia falar com as pessoas, isso que eu ainda trampei presencial. Encontrava meus companheiros de banda e não saía assunto. Os dois anos de pandemia viraram quatro anos de retomada. Por isso, o álbum representa superação. Era pra ter saído em 2020, mas se postergou quase cinco anos. As baterias foram gravadas em 2019, então a ideia era já seguir ali a gravação. Também queríamos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, não tinha um produtor pressionando.
Lucas – Essa demora, entre aspas, eu acho que é um respeito ao tempo de cada um dos quatro e ao tempo da banda. Foi mais do que gostaríamos, mas paciência. O lado positivo é que saturamos todas as possibilidades de todas as músicas. Ficamos satisfeitos com o resultado final delas, pois já tiveram diversas versões. A gente experimentou e reexperimentou.
Algo que me chamou a atenção é que o álbum começa pelo fim. Quer dizer com ‘End’. Brincadeira à parte, por que abrir o debut com uma faixa que não é nova, que já foi single, em vez de um som inédito?
Guilherme – São 10 músicas, sendo que duas foram singles já lançados: ‘Silence’ e ‘End’. Antes do álbum em si, saiu outra música de trabalho, que é ‘Past Year’, que tem clipe. A ideia de começar com ‘End’ não tem uma proposta. Com o tempo a gente experimentou todas as ordens possíveis de música. Pensamos o disco como o lado A e o lado B, tanto que vai ser em vinil e em fita. .
Felipe – É que o fim é só o começo (risos). Na minha cabeça, nunca tinha pensado dessa forma, de ser oportunidade de mostrar um som inédito.
Guilherme – Era a música que começava os shows também.
Felipe – Em algum momento fez sentido pela forma com que a música inicia, pela letra ou algo assim. Aí só ficou, automaticamente, sendo a primeira música do disco. Tem essa pilha de ser um som de entrada e acabou indo para o disco assim também. Talvez uma escolha por afinidade.
Guilherme – É bizarro que agora, depois de pronto, que a gente percebe que o disco começa pelo fim e termina com uma miragem (a música que encerra o trabalho chama-se ‘Mirage’).
Lucas – Pelo fato de o álbum ter levado bastante tempo, todas as músicas pra nós já eram meio que antigas e conhecidas. Talvez tenha passado despercebido isso. Nem levamos em consideração o que já tinha saído.
Guilherme – O que pensamos quando desenhamos a ideia do disco foi começar por cima, ter uma queda, subir um pouco e cair novamente. Tipo uma onda. Dentro desse contexto, fomos estudando ordens das músicas que se encaixavam com outra.
As letras têm algum eixo temático?
Felipe – Elas seguem uma linha, não sei dizer exatamente qual a motivação central. Acho que é muito sobre tentar todo dia ser alguém melhor dentro sociedade. Tipo: o que eu posso fazer pra tornar o mundo menos pior pra mim e para os outros. Porque o mundo sendo um lugar melhor, eu me sinto melhor e vice-versa. Isso conversa com questões pessoais, relacionamentos (com família, com amigos), essa ida e vinda de pessoas na vida. Tem ocasiões em que se conversa com alguém e rola identificação com a pessoa. Passa um mês e aparece a sensação de que a gente não se conhece mais. São situações que fazem parte desse grande mistério que é viver. Poucas letras falam sobre algo muito específico. A maioria tem relação com a grande confusão mental que é existir num mundo moderno, de muita coisa acontecendo, em que termina o dia e tu não lembra de nada porque é muita informação. Como viemos do punk, tem a contestação também, referências de uma esquerda mais à esquerda, da contracultura e da politização.
A Completers costuma ter um visual de palco, meio social darks, lembrando Joy Division, por exemplo. Isso não é uma novidade no mundo da música, várias bandas já usaram de tal recurso – de Nation of Ulisses a Refused, passando por nomes do revival dark 2000 como Interpol. Mas é bacana, demonstra uma preocupação e um respeito com o que vai ser apresentado. Como surgiu esse lance e por que resolveram manter?
Guilherme – É um estilo de roupa que sempre curti e uso no dia a dia para trabalhar. Há alguns anos percebi que estava ok estender isso também para o palco. Notei que bandas que eu curtia se vestiam assim também: The Clash, Wire, o Klaus Flouride no Dead Kennedys, o Greg Ginn no Black Flag… Isso antes mesmo da The Completers existir, já com os Ornitorrincos. Eventualmente rola um outfit “fim de semana” com camiseta. Não há uma regra muito clara. Vai do mood e temperatura do dia.
Lucas – Pra mim não é uma roupa que costumo usar, mas na Completers eu gosto. Como o Gui comentou, não é sempre que usamos e muito menos uma regra de conduta. Mas pra mim faz sentido. Talvez possa ter alguma relação também com uma visão de que diversos elementos podem somar à nossa música e aos nossos shows. A capa de um disco é importante. As fotos de divulgação, os cartazes, as letras, as luzes e cores nos shows… Tudo importa. São diversas formas de nos expressarmos, criar e recriar a nossa identidade enquanto banda e indivíduos.
Jonas – É como o Lucas falou, tudo importa. Quando alguém fala que o “visú” não importa ou que é irrelevante, acho que é uma mentira pra si mesmo (risos).
Felipe – As roupas que uso nos shows quase sempre são roupas que costumo usar “para sair”. Acho massa o apelo estético que temos (mesmo que simples), acaba fazendo parte do contexto de apresentação, além da música.
O que vocês esperam com esse álbum de estreia?
Felipe – Que consigamos fazer trampos novos. Desovar os que já tem para que outros possam surgir.
Guilherme – Gostaria que pessoas que já conhecem a banda se identifiquem com o material. Nos cobravam esse álbum completo. Tomara que consigamos satisfazer esse povo, que gostem do resultado tanto quanto nós, que nossa música toque e atinja ouvintes em outros lugares do mundo. Temos um público fiel fora do Brasil, mas seria legal que nossa arte se espalhasse por mais lugares.
Essa repercussão na gringa tem a ver com a entrevista que vocês deram para a Maximum Rock’n’Roll (fanzine estadunidense cânone da música independente/punk)?
Guilherme – Na verdade isso foi uma consequência de a nossa música ter se espalhado logo quando já saiu o primeiro single. Por exemplo: tiveram pelo menos dois selos da Alemanha interessados em lançar um disco nosso, mas por a gente estar fazendo as coisas dentro do nosso tempo, o assunto acabou morrendo. Vendemos cópias para público da Itália, da França, dos Estados Unidos. O pessoal da Maximum Rock’n’Roll nos acolheu desde que enviamos os primeiros materiais. Óbvio que a divulgação e a visibilidade que a revista e que a KEXP, rádio que já tocou nosso som, acabam contribuindo para difundir o trabalho.
Voltando para a questão das expectativas com um trocadilho: o que esse primeiro disco completo da Completers completa na trajetória de vocês?
Lucas – Sobre o que eu espero: é uma mistura do que os guris já disseram. Tipo, que as pessoas gostem, mas se não gostarem tudo bem. Espero poder tocar bastante em lugares que a gente já tocou, em outros que a gente nunca esteve, rever amigos, fazer novas amizades e poder focar em músicas novas. Pra mim é sempre uma felicidade muito grande ver algo que eu ajudei a construir se materializar fisicamente. O que completa é que eu gosto muito de ver as bandas que faço parte sendo lançadas, seja em CD, fita cassete ou vinil. Então para mim isso é uma satisfação indescritível. E esse álbum da Completers está sendo lançado nos três formatos físicos, algo que eu nunca tive em nenhuma banda.
Felipe – Tem essa questão do trabalho palpável, no sentido material, como o Lucas comentou. E, ainda, é meio que a realização, ou talvez a percepção, de que de todas as minhas bandas, eu senti que agora é o momento mais maduro e fiel ao que eu gostaria de cantar, ao que eu gostaria de escrever, ao que eu gostaria de compor.
Guilherme – O álbum de estreia da Completers representa bem a realização de um sonho e de um amadurecimento musical. Faz uns 30 anos ou mais que eu tenho banda, que eu toco, sempre sonhei em chegar num nível como agora. É um trabalho que fiz com meus amigos, em uma fase madura. Além disso, nas outras bandas, sempre lançava uma demo, um EP, um split. Em algumas eu entrava já num processo de gravação e de produção de um disco. O nosso debut é algo que os quatro criaram desde o início. Eu até brincava que não podia morrer antes de o disco estar pronto. Quero muito pegar e ver, ouvir, fazer o show de lançamento e outras apresentações pra divulgar o registro. Cheguei ao ápice da vida, estou realizado. O que vier é lucro, musicalmente falando.
– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal.