Entrevista: “Nossos shows são um mundo totalmente diferente! Queremos ir ao Brasil”, diz Patrick Hallahan (My Morning Jacket)
Em 2021, um disco que leva o nome da banda. Em 2025, um álbum chamado “is” (é/está). Parece que a década de 2020 está sendo um período de autoafirmação para o My Morning Jacket. Ou, mais provavelmente, de reafirmação

entrevista de Leonardo Vinhas
Em 2021, um disco que leva o nome da banda. Em 2025, um álbum chamado “is” (é/está). Parece que a década de 2020 está sendo um período de autoafirmação para o My Morning Jacket. Ou, mais provavelmente, de reafirmação. Como conta o baterista Patrick Hallahan nessa entrevista, a banda quase chegou ao fim na década passada. Excessos alcoólicos, a depressão severa de Jim James (vocalista e principal compositor da banda), o estresse da estrada e as dificuldades da indústria musical para artistas que não estão no “mega mainstream”: tudo se somou e colaborou para um dos períodos mais difíceis da história do My Morning Jacket – dos quais eles saíram mais unidos e mais focados musicalmente.
Esse foco resulta em canções mais diretas, nas quais as digressões instrumentais que normalmente dão as caras nas composições da banda ficaram de fora. “is”, o novo lançamento, é o ápice (por ora) dessa busca, com dez faixas abaixo dos 5 minutos (ok, “Beginning from the Ending” tem exatos 4 minutos e 59 segundos) e um formato que pode ser chamado, sem medo, de “pop”. Isso quer dizer partes A e B bem delimitadas, ênfase nos refrões, ganchos melódicos – você conhece o esquema.
E como é o My Morning Jacket, você sabe que isso vai vir com excelência instrumental, com a voz peculiar de James, com forte influência do soul pop e do funk dos anos 1970 e 1980. Afinal, o álbum não se chama “is” à toa: é isso que a banda quer ser agora, e as sementes disso já estavam plantadas lá em “Evil Urges” (2008), mas germinaram lentamente, dando frutos aqui e ali (o que é “Big Decisions”, de 2015, senão um grandioso pop de arena?) até chegaram a florescer mais plenamente nesse 2025 desgraçado no mundo, mas maravilhoso na música (“épocas horríveis produzem boas canções”, você conhece o esquema).
Nem todo mundo gostou. Apesar de algumas resenhas favoráveis, boa parte da imprensa gringa tem dito que a banda “se acomodou”. É estranho como deixar de lado a psicodelia e os arroubos com cara de jam são percebidos como sinônimo de comodismo, quando na verdade dá um baita trabalho chegar a canções tão concisas e, em muitos casos, ganchudas como as de “is”. E é sobre essa trabalheira que Patrick Hallahan fala no começo dessa entrevista, mas não só, em um papo cheio de sinceridade, amor à música, e até um pedido para tocar no Brasil.
“is” teve um longo processo de feitura, desde a pré-produção até a entrega final. Agora que tudo isso passou, o disco está lançado e vocês já estão tocando suas canções ao vivo, como você enxerga o resultado final?
(hesita, depois suspira) Acho que estou bastante orgulhoso dele. Sinto que conseguimos o que nos propusemos a fazer, que era um álbum bastante orientado às canções. Temos muitos álbuns em que as canções são longas, e aparamos bastante até chegarmos à raiz das canções, meio que como em uma culinária de chef, em que você usa os ingredientes certos para fazer a parte principal do prato brilhar. Sinto que conseguimos isso com essas canções. Depois de tocá-las em alguns shows nestes dias, vimos que elas se encaixam tão bem junto com o material antigo, e é tão legal ver que algo que você fez 25 anos atrás dança tão bem com o que você está fazendo agora! Tem esse fio que traçamos ao longo de cada álbum, e eles são diferentes um do outro, mas todos têm a mesma coisa, que somos nós cinco… (Nota: ainda que a formação atual tenha se consolidado em 2004) Não acho que nos desviamos do nosso caminho, e isso me deixa muito animado!
Nas entrevistas de divulgação, Jim disse que, embora ele seja o autor da maioria das canções, o processo é bastante colaborativo, e no caso de “is”, ele seria bem um “disco de banda”. Diante disso, queria saber qual das suas contribuições para este álbum te deixa especialmente orgulhoso.
Ah, meu Deus… Minhas contribuições costumam acontecer bem no comecinho. O lance foi assim: fizemos um álbum inteiro e aí jogamos ele fora e nos voltamos para as demos do Jim. Ele tem umas 700 demos, algumas são só um esqueleto, mas enfim.. Ele repassou tudo isso, foi selecionando até chegar a umas 170 ou 200. Aí eu e ele sentamos e fomos separando o que interessava e o que não. Foi meio como limpar a casa, sabe? “Ah, eu quero isso? Quero sim, bora usar” ou “não, nunca mais vou usar isso” e [faz o gesto de jogar fora]. Aí restaram umas 70 canções, e foi neste momento que levamos tudo para a banda. Eu os ajudei a filtrar todo esse material, e eu tinha a missão de assegurar que toda batida fosse dançável, que tudo nesse álbum fosse para cima. Que mesmo as canções mais lentas fossem algo com um som que te faria se mexer. Eu ajudei também com os arranjos e com a estrutura, que partes seriam repetidas, o que poderia ser o refrão. Mas nós cinco somos meio como a água, sabe? Nós preenchemos os espaços onde precisam de nós.
Você toca com outros artistas. Como isso se reflete no som do My Morning Jacket?
My Morning Jacket é a minha casa, mas eu saio muito de férias. E eu gosto de sair de férias. Faz com que incida luz sobre certas partes da minha vida que eu não as percebo muito quando estou em casa. É uma jornada da alma, que eu adoro fazer por um certo tempo, até ficar com saudade de casa. Aí é quando estou pronto para voltar, e eu pego as lições que eu aprendi enquanto estava fora, trago-as para casa e faço coisas novas com esse conhecimento. Eu adoro tocar com outras pessoas! Química é uma força difícil de descrever, e é interessante notar como as coisas ficam diferentes quando se traz alguém diferente para dentro da sala de ensaio. Nós cinco temos algo que não encontro com mais ninguém. Nós quase nos separamos, e isso nos reaproximou. Nos fez entender que podemos sair e tocar com outras pessoas até o saco encher, mas o que acontece entre nós cinco é muito especial. Isso me fez apreciar verdadeiramente o meu lar.
Você disse que vocês quase terminaram. Isso foi antes desse álbum, ou do anterior?
Foi em 2017. Foi entre “The Waterfall” e “The Waterfall II”.
O disco de 2021 tem a canção “Lucky To Be Alive”, que fala das dificuldades de se manter na indústria musical hoje em dia, de encarar turnês e afins. A música trata um pouco dessa quase separação?
Com certeza. É outro casamento! (risos) Estar na banda é como estar casado com outras quatro pessoas, e qualquer relacionamento vai passar por momentos de provação e atribulações. Mas o que não te mata te fortalece, então… Cá estamos.
A banda já tem mais de 25 anos, mas a sua relação com Jim tem muito mais tempo que isso.
Bastante (Nota: Jim e Patrick são amigos de infância).
Estar com um amigo de infância por tanto tempo já não é fácil para pessoas com uma vida convencional. Mas vocês não têm uma vida convencional: há o estresse da estrada, as questões de vaidade e ego que vem com a exposição pública, a frustração do trabalho criativo. O que os mantém unidos durante os momentos difíceis?
Tá aí uma pergunta muito boa (risos). Parece que eu estou na terapia agora (risos). Nossa amizade foi testada algumas vezes. Quando o My Morning Jacket começou, eu tocava numa banda amiga que também era rival, e Jim não queria aborrecê-los. Por isso ele não me pediu para ser o primeiro baterista da banda. Eles tiveram dois bateras (J. Glenn entre 1998 e 2002, e KC Guetig entre 2000 e 2002), e eu dividia a casa com o segundo. Antes de sair para uma turnê, Jim e eu tivemos uma conversa em que dissemos que jamais estaríamos juntos na mesma banda. Nós já tínhamos visto bandas brigarem a ponto de arruinar as amizades e decidimos que nunca faríamos isso. “A gente se ama, boa turnê, te vejo quando você voltar”, e aí ele pegou a estrada. E naquela turnê, as coisas não estavam funcionando com o baterista [KC Guetig]. Aí eu estava dando uma festa para o aniversário de 21 anos da irmã do Jim – que é como uma irmã mais nova para mim – e ele me ligou no meio da festa me perguntando se eu podia parar tudo e entrar para a banda. E eu falei: “cara, a gente literalmente acabou de conversar sobre isso, bem antes de você sair. Eu não quero que isso estrague nossa amizade”. Eu não disse que sim a princípio. Uns dias depois, eu liguei de volta para ele. Eu tinha pensado muito, muito mesmo, sobre o assunto. A única coisa que precisávamos ter clara era que eu não queria que isso estragasse nossa amizade. Se isso começasse a acontecer, eu pularia fora. Amizade primeiro, banda em segundo. A gente quase faltou com a nossa palavra quando quase terminamos: ele estava em um lugar muito ruim mentalmente, enfrentando uma depressão muito severa, disse algumas coisas muito pesadas,.. tinha muito álcool rolando na banda… Nós nos desviamos um tanto do caminho, e tivemos que ficar bem entre nós antes de tocar o barco com a banda. Tivemos um papo de umas oito horas de simplesmente sentar e botar tudo pra fora, o que quer que fosse. Foi a melhor coisa que aconteceu para a nossa amizade! Depois disso, a gente tinha acabado de encerrar nosso festival, o One Big Holiday, e eu e ele nos sentamos por umas três horas de papo em que a gente simplesmente passou pela gratidão de ter uma amizade dessas e estarmos juntos em uma banda por tanto tempo. É outro nível de amizade se você consegue fazer essas duas coisas, manter uma amizade e estar em uma banda, por tanto tempo. Tem aquele ditado que diz que nunca devemos fazer negócios com nossos amigos, mas eu não entro em nenhum negócio com ninguém que não seja amigo ou família daqui pra frente, porque ninguém se importa mais com você do que as pessoas estão emocionalmente investidas em você e no bem-estar do negócio. Pra encurtar a história: teve horas que foi desafiador, mas trouxe mais profundidade para nossa amizade.
Aproveitando que você o mencionou, gostaria de saber como surgiu a ideia que levou à criação do festival One Big Holiday.
Bem, há promotores que fazem toda a organização para um festival e deixam as bandas principais responsáveis pela curadoria, mas é algo que queremos fazer desde sempre, porque não apenas é um jeito de trazer… (pausa) Como eu digo isso? Comunidade é muito importante para nós. Nossa base de fãs, que viaja e assiste nossos shows por toda a parte, eles são uma comunidade tão forte! E nós gostamos de mostrar que, assim como os fãs têm sua comunidade, nós gostamos de promover uma comunidade musical também. Então ter um festival para o qual podemos convidar bandas que nos inspiraram… Acabamos de ter o Dinosaur Jr [na última edição] e J Mascis tocou “One Big Holiday” com a gente. Eu chorei o tempo todo! São esses momentos, e também trazer artistas novos que amamos e que queremos mostrar aos nossos fãs. Eles se juntam a nós e nós nos tornamos a banda de acompanhamento deles. Isso é promover uma comunidade! E é tão importante para nós! Esse é o núcleo do One Big Holiday, e é bem diferente das nossas turnês. Trazemos bandas novas nas turnês também, mas ser capaz de trazer múltiplas bandas e criar um lance que aproxima as pessoas no palco e na plateia é muito importante para nós. É um lance de parar por um momento e guardar o telefone, deixar o computador de lado e deixar as diferenças políticas de lado e simplesmente focar em sermos humanos por alguns minutos. Essa é a motivação, e é por isso que dedicamos tanto tempo ao festival. Quando termina, estamos exaustos e dormimos por dois dias inteiros (risos), mas é profundo e intenso e bonito, e nós amamos. Gostaria de fazer todos os anos, mas não queremos sugar o dinheiro dos nossos fãs, então deixamos mais espaçado para que eles possam se programar.
Vocês já foram contatados por algum produtor brasileiro para tocar por aqui?
A não ser pelo Lollapalooza e pelo Pearl Jam que nos convidou para abrir shows deles, não tivemos nenhuma proposta. Nessas duas ocasiões, não podíamos, porque já tínhamos turnês agendadas. (enfático) A gente realmente quer descer até aí e tocar, porque se temos fãs aí, eles apenas ouviram os discos, e nunca viram os shows, a banda ao vivo, e os nossos shows … (suspira) Eles são um mundo totalmente diferente! E meio que é por causa deles que somos conhecidos, e nós queremos tanto levar isso ao Brasil! Simplesmente não deu certo ainda. Então se você conhece algum produtor, ou se essa entrevista servir para espalhar a ideia, nós realmente queremos ir até o Brasil para tocar e fazer nosso lance, sair em aventuras e conhecer pessoas. Eu adoro tornar o mundo um lugar mais próximo, porque todos queremos as mesmas coisas, e tem tanta divisão rolando em nosso país agora – no mundo todo, me parece – que, deus, duas das coisas que podem fazer essa divisão sumir são a música e a comida! Porque elas aproximam as pessoas. Nós precisamos ser lembrados de nossa humanidade, e estamos nessa missão e queremos ir até o Brasil e outros lugares para levar um pouco de amor.
Leonardo Vinhas (@leovinhas) é produtor e autor do livro “O Evangelho Segundo Odair: Censura, Igreja e O Filho de José e Maria“.































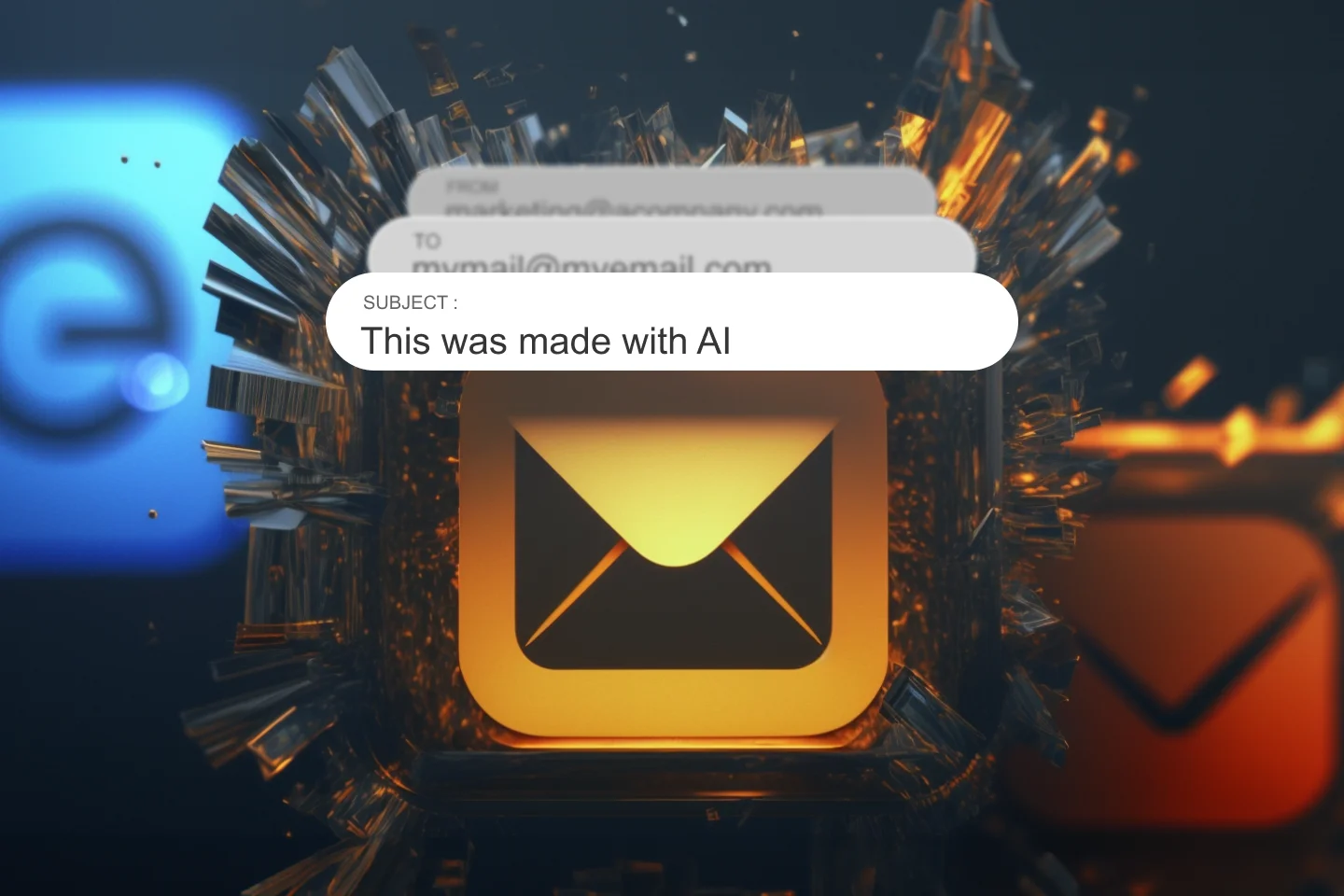
















![The Last of Us: Este pequeno detalhe da 2ª temporada torna a morte de [SPOILER] ainda mais devastadora](https://uploads-observatoriodocinema.seox.com.br/2025/04/Pedro-Pascal-and-Kaitlyn-Dever-as-Joel-and-Abby-in-TLOU-season-two-1024x576.webp?#)




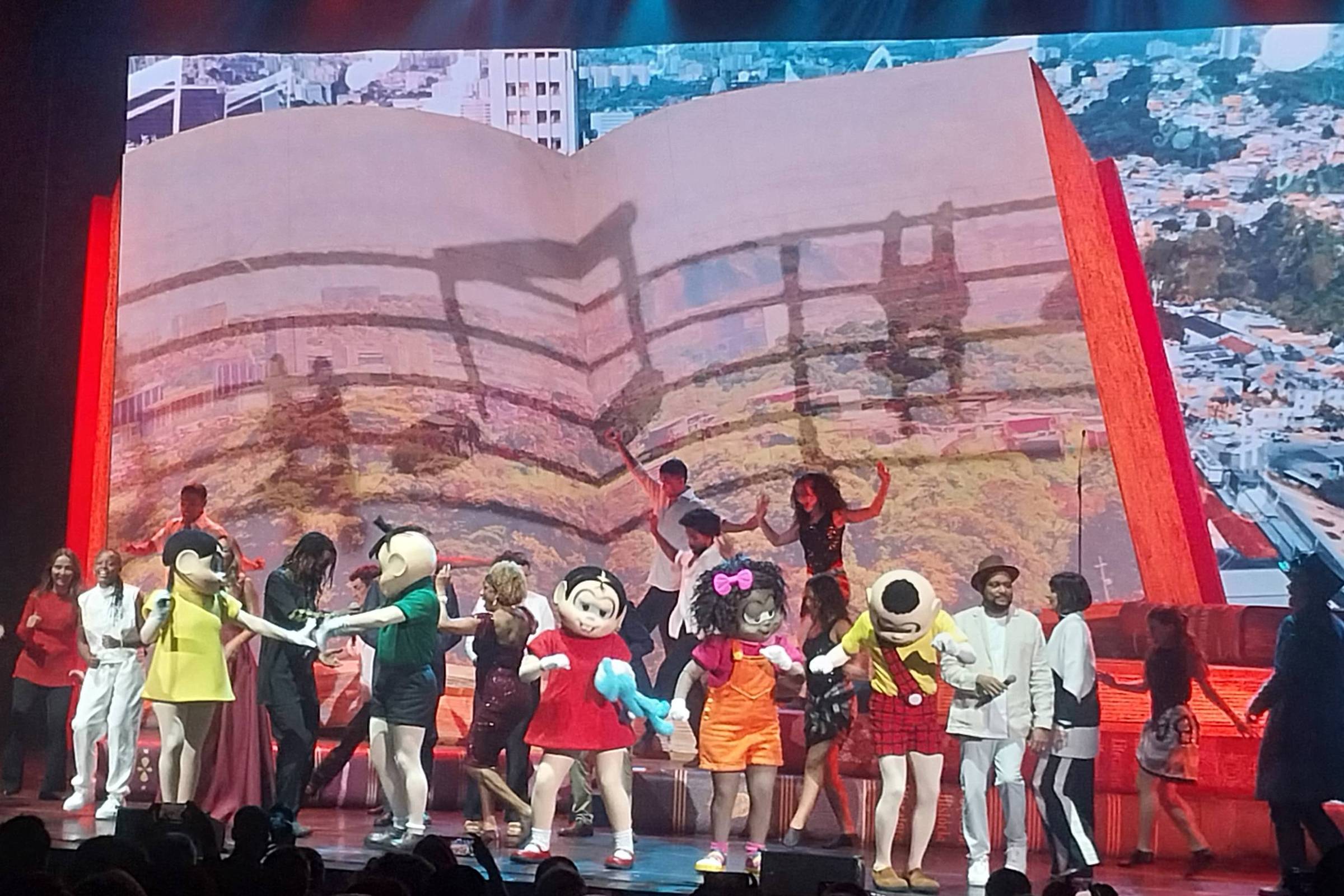

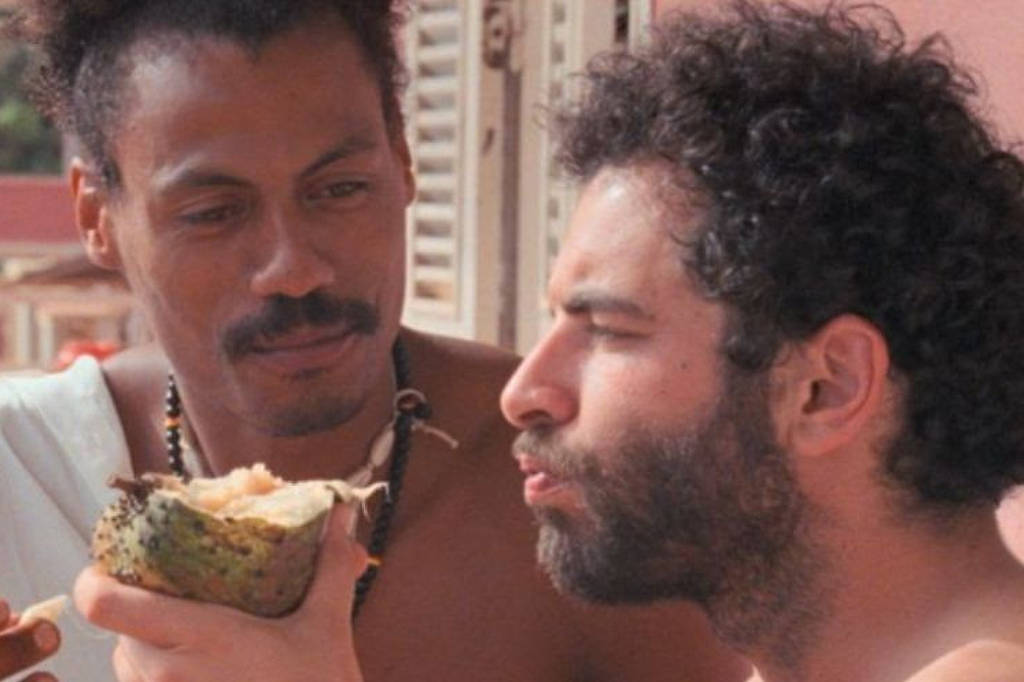



























































































.jpg)
.jpg)

.jpg)


























