Entrevista: Machine Girl fala sobre distopia contemporânea e conta que ama João Gilberto e baile funk
“A música do ‘MG Ultra’ é distópica, mas não é necessariamente uma distopia futura. Praticamente estamos bem próximos do futuro cyberpunk, mas em todos os piores aspectos”, diz Matt Stephenson.

entrevista de Alexandre Lopes
Na noite de 26 de abril, o lendário Hangar 110, em São Paulo, foi palco da estreia do Machine Girl no Brasil. Em meio a uma rápida turnê latino-americana, o grupo norte-americano de música eletrônica extrema fez uma única apresentação no país, deixando sua marca anárquica digital em um espaço tradicionalmente dedicado ao punk e hardcore.
Criado em 2012 por Matt Stephenson, o Machine Girl começou como um projeto solo de música eletrônica caótica, alimentado por referências de breakcore, punk, noise, techno, industrial, videogames e filmes japoneses trash. Em 2015, com a entrada do baterista Sean Kelly, o som ganhou mais corpo e energia orgânica no palco, com Stephenson alternando vocais, controlador midi e mergulhos na plateia. Durante a pandemia, o duo teve um aumento de popularidade, impulsionado por vídeos virais espontâneos de fãs utilizando suas faixas no TikTok. E desde sempre tem evoluído de forma radical: da explosão instrumental chapante de “WLFGRL” (2014) ao mergulho paranoico atual de “MG Ultra” (2024), sexto disco da carreira. Nos shows mais recentes, uma nova integrante se juntou ao duo: a guitarrista Lucy Caputi, reforçando o peso e a presença física da música que mais do que nunca está no limite entre a máquina e a carne.

Um dia antes da apresentação no Brasil, o Scream & Yell conversou com Stephenson, que havia desembarcado em São Paulo horas antes. Cansado, mas acessível, ele falou sobre a passagem relâmpago pela América do Sul — que incluiu Argentina, Chile, Peru e México em menos de uma semana — e sobre o mais recente álbum.
“A música do ‘MG Ultra’ é distópica, mas não é necessariamente uma distopia futura. Fala sobre a distopia que estamos vivendo atualmente, sabe? Praticamente estamos bem próximos do futuro cyberpunk, mas em todos os piores aspectos”, resume Matt. A visão crítica do artista sobre o papel da tecnologia, da mídia social e dos algoritmos na construção da realidade contemporânea são temas centrais nas letras do disco. “A tecnologia em si, em um vácuo, não é o problema. O problema começa quando você introduz o elemento humano”, afirma.
Apesar do tom niilista de sua obra, a conversa com o fundador do Machine Girl teve momentos surpreendentemente leves. Matt demonstrou interesse genuíno pela música brasileira e revelou uma admiração especial por João Gilberto, Sérgio Mendes, Flora Purim e Amon Tobin. “Eu adoro esse tipo de som! Na verdade, eu adoro música brasileira antiga”. Mas suas predileções não ficam apenas em nomes do passado, estendendo até baile funk e DJs contemporâneos. “Tem também uns DJs modernos, tipo um cara chamado DJ Ka que eu encontrei online — eles fazem uma música de clube super distorcida, exagerada, que eu acho muito legal”. Confira abaixo a entrevista completa.
Oi, Matt, como você está?
Tudo bem, tudo bem. E você, como está?
Estou bem. Então, vocês já estão aqui no Brasil?
Sim, estamos em São Paulo agora.
Essa é a primeira vez da banda aqui na América do Sul, certo? Eu sei que vocês tem uma agenda bem apertada, mas como tem sido essa experiência pra você, de estar na América do Sul?
Ah, literalmente cheguei faz algumas horas, então é meio difícil dizer por enquanto, mas… estamos todos muito empolgados por estar aqui e gostaríamos de ter mais tempo, sabe? É um pouco chato ter que ir tão rápido de um lugar para outro.
Você acha que vai conseguir fazer algum passeio turístico ou conhecer alguma das cidades?
Ah, não sei… Em São Paulo, não tenho certeza, porque temos o show mais cedo amanhã e depois temos que acordar às cinco da manhã no domingo pra ir embora.
Ah, isso é muito cedo.
É, cedo demais! Como eu disse, a gente realmente não tem tempo… é uma pena, porque eu estava ansioso pra vir ao Brasil.
Eu não sei se você conhece o lugar onde vocês vão tocar amanhã, o Hangar 110.
Sim, ouvi dizer que é bem lendário, né?
É um lugar bem lendário na cena underground e alternativa. Muitas bandas de punk rock e hardcore já tocaram lá. Achei que você gostaria de saber disso.
É, agora estou empolgado pra tocar nesse lugar. Eu não fazia ideia — tipo, realmente não sabia nada disso até o último entrevistador me contar. Muito legal!
Então, a banda tem uma discografia bem sólida — tipo, seis álbuns e alguns EPs. Como vocês definem o setlist? Tentam equilibrar as músicas pesadas com as mais suaves?
Bom, nas últimas turnês, como a gente adicionou um novo integrante à banda e tivemos que reconstruir nosso setup ao vivo — e também lançamos o “MG Ultra” recentemente —, muita coisa dessas últimas turnês, desde o outono, tem sido principalmente do novo álbum, com algumas músicas antigas no meio. Mas nessa turnê pela América Latina estamos adicionando mais músicas antigas. Ainda é difícil incluir coisas do “WLFGRL”, porque é instrumental e muito diferente em termos de estilo, sabe? A gente tem conversado sobre tentar encontrar um jeito de incluir mais desse material no set, mas ainda não tivemos tempo pra fazer isso. Então… o que eu queria dizer é: não esperem muito do “WLFGRL” nesse show, ok?
Como você disse, agora vocês têm uma guitarrista de apoio nos shows. A Lucy Caputi, certo?
Sim.
A banda começou com você sampleando sons e criando tudo sozinho. Depois o Sean entrou para tocar bateria ao vivo, e agora vocês têm a Lucy tocando com vocês. Você vê o Machine Girl se tornando uma banda completa no próximo álbum ou algo assim?
Sim, muito mais nessa direção. Com certeza algo mais próximo de uma banda completa.
OK, então… Gostaria de te perguntar: o que você sabe sobre o Brasil? Existe alguma banda ou artista brasileiro que você admira?
Ah, sim! Tem bastante coisa de baile funk e coisas assim que chegaram nos Estados Unidos. Quando eu saio à noite, vou pra clubes — o que é raro hoje em dia —, eu ouço esse tipo de som. Minha namorada é DJ, e ela toca uns edits de baile funk do SoundCloud, umas versões meio alternativas. Tem também uns DJs modernos, tipo um cara chamado DJ Ka que eu encontrei online — eles fazem uma música de clube super distorcida, exagerada, que eu acho muito legal. E quando eu era mais novo, eu tive uma fase em que fiquei obcecado com aquele artista super famoso… Não lembro o primeiro nome agora, mas era Gilberto, da bossa nova…
Ah, o João Gilberto?
É, é isso! Tive toda uma fase com ele. Também curtia muito Amon Tobin quando comecei a entrar na música eletrônica. E tem outro compositor brasileiro bem famoso, não lembro o nome agora, mas ele tem uma música chamada “Brazil 66”. É bem conhecida, toca no filme “Austin Powers”. É bem legal, é dos anos 60. Posso procurar o nome dele rapidinho…
Deixa eu só verificar aqui… “Brazil 66”?
Sim, eu tenho certeza que é esse o nome da música, e ele é super famoso.
Sérgio Mendes? [Nota do editor: na verdade trata-se de “Mais que Nada” de Sérgio Mendes & Brazil 66]
É, é isso!
Eu não sabia que ele estava na trilha sonora do Austin Powers (risos)
É, essa é a forma como, tipo, 90% das pessoas da minha idade ou mais jovens nos Estados Unidos conhecem essa música, se é que conhecem. Se eles souberem, é provavelmente por causa desse filme.
Ah, que legal! É interessante o que você disse sobre os DJs antigos e tal. Eu estava ouvindo o último álbum e algumas partes de “Hot Lizard” me lembra um pouco um ritmo que foi popular aqui no Brasil no início dos anos 90, chamado Funky Melody. Você já ouviu falar disso?
Não, é um ritmo? Foi isso que você disse?
Sim, sim, é tipo um funk eletrônico meio romântico, sabe? Como posso dizer… é algo mais suave, mas alguns sons de “Hot Lizard” me lembram desse ritmo.
Ah, sim, vou ter que conferir isso depois!
Talvez você goste disso! Eu estava olhando o perfil da banda no Spotify e notei que tem uma playlist colaborativa lá chamada “Songs to Eat Glass To”. E entre várias coisas que eu achei que tinham a ver com o seu som, como Atari Teenage Riot, Suicide, Killing Joke e Death Grips, eu percebi que tem uma banda brasileira chamada Azymuth, uma banda dos anos 70 que mistura funk, samba e jazz fusion. Você acha que tem algo a ver com os seus gostos pessoais? Foi você que colocou essa música lá?
Eu acho que não… Como é o nome da banda?
Azymuth, tipo A-Z-Y-M-U-T-H (soletrando)
Ah, não, vou ter que ouvir isso também, acho que eu ainda não conheço essa banda.
Sim, é uma banda bem antiga, dos anos 70, e tem um som bem funky, samba e jazz. Você deveria conferir também, é bem legal.
Ah, sim, eu adoro esse tipo de som! Na verdade, eu adoro música brasileira antiga, sempre que encontro algo assim. Tem uma outra artista que tem uma música que eu amo… deixa eu ver… Flora Purim. Você conhece, já ouviu falar dela?
Sim, sim, não conheço a fundo, mas já ouvi falar dela.
Ela tem músicas incríveis, trabalhou com o Chick Corea e tal.
Certo, certo, legal! Mas voltando à sua música: vi em muitos lugares descrevendo sua música como distópica, caótica, e acho que isso tem muito a ver com os tempos que estamos vivendo. O que você acha sobre isso? Você diria que sua música é um reflexo disso, ou seria algum tipo de escapismo, uma tentativa de se desconectar da situação que estamos vivendo agora?
Eu acho que definitivamente é um pouco um reflexo disso, com certeza. Sabe, a música do “MG Ultra” tem a ver com isso, é distópica, mas não é necessariamente uma distopia futura. Fala sobre a distopia que estamos vivendo atualmente, sabe? Praticamente estamos bem próximos do futuro cyberpunk, mas em todos os piores aspectos, como nas histórias de livros como “Neuromancer”. Só que todos os lados ruins e nenhum dos lados legais da mídia cyberpunk. E sim, “MG Ultra” é definitivamente uma reflexão e uma meditação sobre muito disso, sobre diferentes aspectos disso, e sobre como a tecnologia, por razões tanto intencionais quanto acidentais, distorceu tanto nossas mentes, a ponto de ter deixado muita gente completamente insana, muito louca, e só vai ficando cada vez mais louca.
Eu entendo. Eu sei que o último álbum toca em vários assuntos como sanidade, realidade e a manipulação de tudo isso pela tecnologia. Como artista que é muito crítico aos algoritmos e tecnologia mas ao mesmo tempo se beneficiou deles de alguma forma, especialmente com o TikTok durante a pandemia, como você vê tudo isso? Não é um paradoxo? Como você vê tudo isso?
Sim, eu acho que é uma relação complexa. Uma coisa que eu não sei se eu deixei claro, mas eu gostaria de passar com a música que faço — pelo menos com os temas que eu falo — é que essas coisas não são “preto e branco”, sabe? É complexo a forma como interagimos com tudo isso. A tecnologia em si, em um vácuo, não é o problema. O problema começa quando você introduz o elemento humano, aí sim se torna um problema. Então existem benefícios tanto quanto existem aspectos negativos com tudo isso. E eu ainda acho que coisas como as mídias sociais desreguladas, sem mitigação, são uma coisa negativa e fizeram danos irreparáveis às pessoas, mas sim, nós com certeza nos beneficiamos dessas plataformas, sabe? E não por algo que eu tenha feito, mas explodiu no TikTok várias vezes. E eu sou grato que isso tenha acontecido, porque nos expôs. Quando as mídias sociais são puramente sobre compartilhar arte, música e ideias, é incrível. Mas também é usada, como você disse, para manipular, nos vender merda, nos observar e aprender sobre nós. Não é uma plataforma passiva — nenhuma dessas coisas é passiva. Então, é complicado, sabe? E eu acho que, seja qual for o caminho para nossa salvação como humanos, ele vai exigir que a gente chegue a um entendimento de toda essa tecnologia, sabe? E usá-la a nosso favor para viver, se libertar. Mas como isso vai ser, eu realmente não tenho ideia.
– Alexandre Lopes (@ociocretino) é jornalista e assina o www.ociocretino.blogspot.com.br.






















































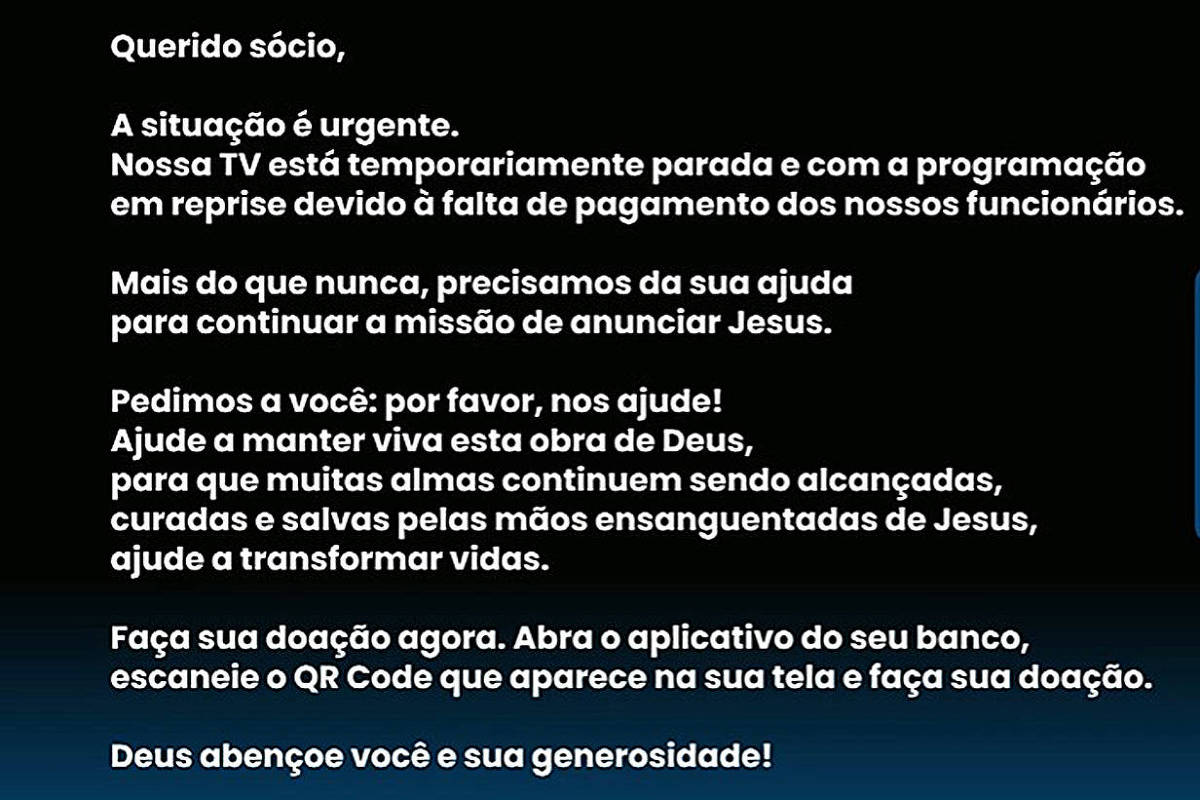

















![Na intimidade da arte fotográfica[À Sua Imagem]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xTDncqPPQLL6Z3Vk6C-saHZ5-a0EwP2zRynM1yxjCwxr6eib8hM4NTla42rgR9RseH3LBfZQQTEhWSiJjBJA5pXRldX85P4Bonbt5iLCvQtJ-3cJuqfwphzhQXIr2Y36DEWHlUvkfeWzxt33IcmSekvsUbJ_yqtQoZRPFrIRihAvY0R2kUYAsQ/w1200-h630-p-k-no-nu/A%CC%80%20SUA%20IMAGEM.png)












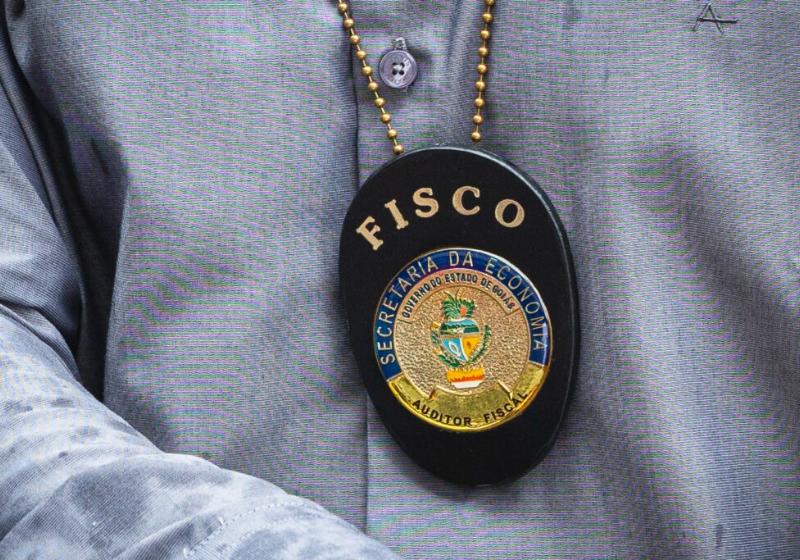
































































.jpg)


.jpg)























