Ao vivo em São Paulo, Beat entrega show que deixaria até o ‘véio do King Crimson’ orgulhoso
Show não foi apenas um tributo aos anos 80 do King Crimson: foi uma reinterpretação sem ser uma réplica exata das gravações originais, mas mantendo uma atitude respeitosa às composições.

texto de Alexandre Lopes
fotos de Douglas Mosh
Sabe aquele tipo de show que, se você fechar os olhos, pode jurar que está ouvindo fantasmas, ou talvez até ETs de alguma outra civilização movida a guitarras estranhas? Pois bem, foi exatamente isso que rolou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de sexta-feira, dia 9 de maio. O imponente King Crimson de Robert Fripp não estava ali como aconteceu em outubro de 2019, mas o Beat – encarnação liderada por Adrian Belew – fez o seu melhor para garantir que uma obra que deixou sua marca na história da música finalmente visitasse o Brasil. E que visita…
A formação da banda – Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey – poderia ser facilmente chamada de um “supergrupo” revisitando tempos nostálgicos, mas vai além disso: é uma reapropriação contemporânea de uma fase essencial do King Crimson – a trilogia de álbuns “Discipline” (1981), “Beat” (1982) e “Three of a Perfect Pair” (1984).
Um pouco de contexto: Adrian Belew, conhecido por suas colaborações com Talking Heads, Frank Zappa, David Bowie, Tom Tom Club e outros, teve uma passagem marcante pelo King Crimson entre 1981 e 2009. Durante os anos 80, a banda adotou uma sonoridade que mesclava elementos do post-punk, new wave, funk, minimalismo, world music e percussão africana. No entanto, Belew foi injustamente excluído pelo chefão Robert Fripp da última encarnação do Crimson que excursionou entre 2013 e 2021, sendo substituído por Jakko Jakszyk.
Após um período de estranhamento e algumas trocas de farpas em entrevistas e redes sociais com “o véio do King Crimson” – forma nem tão elegante mas memética e popular entre os fãs brasileiros para designar Fripp e seu temperamento reservado e exigente – Belew continuou sua carreira solo e, em 2016, apresentou-se no Carioca Club em São Paulo com o Adrian Belew Trio, onde já ensaiava ali parte do repertório que hoje integra o set do Beat.

Mais recentemente, depois de resolver suas diferenças com Fripp, Belew propôs montar uma banda dedicada à fase oitentista do King Crimson. Embora o dono da banda tenha optado por não participar – este período teve uma série de discussões sobre a abordagem e o som do grupo, desembocando na ausência de Fripp em gravações de disco e uma breve separação da banda após turnês – ele autorizou o projeto. E assim Belew recrutou Tony Levin (membro da formação da época), o baterista do Tool, Danny Carey, e o virtuose Steve Vai.
A conexão de Vai com o universo do Crimson não vem de agora; co-criador do G3 — turnê de guitarristas como Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson e Yngwie Malmsteen —, ele trouxe Fripp para uma edição brasileira do projeto, em 2004. Fripp, que apresentou suas soundscapes viajantes na ocasião, foi lamentavelmente vaiado por uma plateia cabeça-dura que demandava virtuosismo guitarrístico explícito em diversas notas em alta velocidade. Apesar desse episódio, Fripp não guardou mágoas em relação ao anfitrião e declarou que “Steve Vai seria o único guitarrista que poderia tocar suas partes”, não apenas abençoando o Beat e sugerindo seu nome, como também dando conselhos sobre como executar suas linhas intrincadas.

Na noite do show em São Paulo, o ambiente fora do Espaço Unimed já dava o tom de ineditismo: antes de entrar para a apresentação, alguns fãs faziam seu esquenta com cervejas compradas de ambulantes na porta, com “The Sheltering Sky” rolando em um sistema de som improvisado em uma barraca de pastel, e, do outro lado da rua, um vendedor de cachorro-quente fazendo a concorrência com “Sartori in Tangier”. A combinação das duas faixas tocando simultaneamente se mostrava tão surreal quanto o que viria a seguir.
Lá dentro, os admiradores do King Crimson (a maioria visivelmente acima dos 30, 40 ou 50 anos) se misturavam a várias camisetas do Tool – gente que veio ver Carey em ação. O show teve início às 22h02, com Belew saudando o público com um “obrigado, boa noite”. A abertura ficou por conta de um apito em “Neurotica” e aquela grande massa sonora: Belew e Vai se entrelaçavam em linhas de guitarra angulares e timbres agudos que simulavam sirenes, enquanto o Chapman Stick de Levin e a bateria de Carey proporcionavam uma base por vezes sólida e viradas quase à beira do caos. A plateia se viu perdida no meio de uma loucura rítmica e vocais pré-gravados que surgiam mais como lampejos do que algo facilmente decifrável.

A sublime “Neal and Jack and Me” trouxe referências líricas a Kerouac e Neal Cassady, de “On the Road” – não por acaso, o disco “Beat” foi inspirado pela Geração Beat. “Vamos acender as luzes! Olha como vocês são bonitos! Obrigado por terem vindo!”, pediu Belew antes de “Heartbeat”, o único single do álbum. Apesar de conter um tempo quebrado, a melodia flerta com algo próximo de uma balada radiofônica para aqueles tempos do Crimson.
“Sartori in Tangier” contou com as peripécias de Steve Vai, demonstrando uma exímia habilidade em coordenar as notas no braço da guitarra, a alavanca de tremolo e mudanças de tom em uma pedaleira de efeitos. Diferente de um show solo ou do G3, Vai não estava em um espetáculo de técnica exibicionista, mas em um espaço onde sua forma de tocar se tornava uma extensão do experimentalismo. Quando ele tomou o controle da canção, foi um desses raros momentos em que a música se torna quase uma experiência de deslocamento; não se tratava apenas de habilidades, mas de como elas são colocadas a serviço do som. Vai não estava tentando ser virtuoso; ele simplesmente fazia sua guitarra soar carregada de sentimento ao sustentar suas notas.

Logo depois, Belew apresentou sua “Twang Bar King” – uma Fender Mustang de 1966 modificada com os primeiros sintetizadores de guitarra da Roland e pintura de Mike Getz com estética kitsch (que parece saída de um pesadelo pop dos anos 80 ou até mesmo de um quadro do Romero Britto). O instrumento mais parece uma guitarra assombrada pela alma de um sintetizador e é parte importante do som que Belew faz em “Model Man” – uma canção com versos bonitos e refrão harmonioso, mas com linhas cada vez mais recheadas de timbres estranhos e mudanças de pitch em sua alavanca.
Belew pode estar com 75 anos, mas ele estava tão elétrico quanto um menino empolgado com seu novo brinquedo. Ele comenta “este sentimento é muito bom”, antes de engatar a estranhíssima “Dig Me”, talvez a composição mais desconcertante do set. Uma faixa abstrata meio spoken word com voz dobrada, ritmo torto e uma construção que só encontra certo equilíbrio nos refrões melódicos. “Aposto que vocês não esperavam ouvir essa”, brincou ele ao final.

“Man With an Open Heart” teve os primeiros coros espontâneos da plateia, com seu estribilho fácil de cantar. A ruidosa “Industry” veio em seguida, com Levin e Carey marcando o ritmo na bateria e synths, além de mais momentos de Belew explorando os limites de sua guitarra. “Larks’ Tongues in Aspic (Part III)” encerrou o primeiro ato em clima de tensão rítmica e agressividade, com Levin usando seus “funky fingers” — extensões que transformam os dedos em baquetas — para reforçar o peso das linhas de baixo.
Veio então uma pausa de 20 minutos — nada inesperado para uma banda cujos membros têm entre 64 e 78 anos. O público, sem reclamar, aproveitou para ir ao banheiro, comprar cerveja ou desembolsar R$200 em camisetas. Alguns jovens de vinte e poucos anos buscaram posições mais próximas do palco para a segunda metade do show — um atestado de que aquela música ainda conseguia ser relevante, mesmo mais de 40 anos depois.

O segundo ato começou com Danny Carey sozinho no palco para iniciar as percussões de “Waiting Man”, sendo depois acompanhado por Belew nas baquetas, que novamente ria e se divertia. Carey provou ser um baterista monstruoso – não só por ter quase dois metros de altura – mas também por executar com facilidade as partes originalmente criadas pelo lendário Bill Bruford. Steve Vai apareceu discretamente das sombras, adicionando texturas com toques econômicos. A faixa ainda contou com vocais espirituosos e microfonias peculiares de Belew.
Em “Sheltering Sky”, Vai se permitiu exagerar um pouco em sua performance até então contida e botar para fora seus tradicionais solos rápidos e virtuosísticos. Não que isso tenha atrapalhado a ambientação da canção – que foi prolongada além dos seus 8 minutos originais; o que incomodou mesmo foi a insistência de alguns fãs que cismavam em conversar durante este momento denso e suave. Em seguida veio “Sleepless”, o único single de ”Three of a Perfect Pair”, com Levin novamente empunhando os funky fingers no baixo.

“Frame By Frame” foi a primeira catarse da noite, com grande parte do público cantando. Vai já havia dito que essa seria a faixa mais desafiadora do set para ele — especialmente por conta da técnica de palhetada contínua usada por Fripp. Por consequência, Vai imprimiu seu próprio estilo no arranjo. Mas o problema maior é que no refrão sua guitarra ficou muito mais alta, a ponto de encobrir as notas de Adrian Belew.
Logo depois, Vai sacou uma guitarra Stratocaster para dedilhar as notas iniciais de “Matte Kudasai”. Novamente a plateia buscou participar, acompanhando os vocais de Belew, que completava o arranjo com belas notas tocadas em slide. Mas a catarse foi ainda maior em “Elephant Talk”, com o público em êxtase durante a introdução tocada por Levin no Chapman Stick e alguns fãs arriscando dançar ao ritmo frenético.

“Three of a Perfect Pair” veio com seus arpejos complicados e compassos alternados, explodindo em mais um refrão cantado pela massa empolgada. “Indiscipline” fechou o segundo ato, com Carey estendendo sua introdução com uma breve demonstração de sua técnica, antes que a canção explodisse em puro peso com Belew abusando da alavanca de sua guitarra Parker Fly para tirar notas agudas e terminar com um “I like it!” maníaco.
Após breve saída, a banda retornou para o bis. De volta aos holofotes, Belew disse que tinha algo importante a anunciar e o público começou a gritar “Danny Carey”. Belew fez piada, perguntando se eles poderiam tocar mais uma ou se a plateia gostaria de gritar “Adrian Belew” também. Nesse momento, um roadie trouxe um bolo ao palco e a plateia foi convidada a cantar “parabéns a você” para o baterista, que saiu de seu posto para tirar um pedaço do doce com a baqueta e agradecer o carinho. Era como se o bolo revertesse toda a solenidade do rock progressivo cabeçudo para algo mais fluido, mais humano.

Belew anuncia que a banda fugiria um pouco do repertório oitentista para tocar uma música mais antiga do King Crimson. E quando eles iniciaram “Red”, era como se o passado e o presente estivessem se fundindo em uma massa de riffs e dissonâncias, seguida por uma enérgica versão de “Thela Hun Ginjeet”, cheia de frenesi. Terminado o show às 0h27, a banda se reuniu na frente do palco para agradecer a todos, tirando fotos com o público ao fundo.
No fim, o show do Beat não foi apenas um tributo aos anos 80 do King Crimson: foi uma reinterpretação sem ser uma réplica exata das gravações originais, mas mantendo uma atitude respeitosa às composições. A adaptação das músicas ao estilo de cada novo integrante trouxe autenticidade ao repertório. E foi importante ver Adrian Belew, que tem uma relação complexa com seu próprio passado no Crimson, se divertir com seu legado e ter o devido reconhecimento ao explorar novamente as possibilidades de um som que ainda tem sua marca indelével na música.
Não era somente honrar a memória de uma era, mas descobrir o que ainda poderia ser feito com aquelas ideias, fazendo com que elas continuassem a existir e se transformar. Se Robert Fripp não se arrepende por não participar desse Beat, no mínimo o ‘véio do King Crimson’ está orgulhoso. E quem sabe, até ele não teria esboçado um “I like it!” no final.

Setlist:
Neurotica
Neal and Jack and Me
Heartbeat
Sartori in Tangier
Model Man
Dig Me
Man With an Open Heart
Industry
Larks’ Tongues in Aspic (Part III)
Waiting Man
The Sheltering Sky
Sleepless
Frame by Frame
Matte Kudasai
Elephant Talk
Three of a Perfect Pair
Indiscipline
Bis:
Red
Thela Hun Ginjeet
– Alexandre Lopes (@ociocretino) é jornalista e assina o www.ociocretino.blogspot.com.br.
– Douglas Mosh é fotógrafo de shows e produtor. Conheça seu trabalho em instagram.com/dougmosh.prod































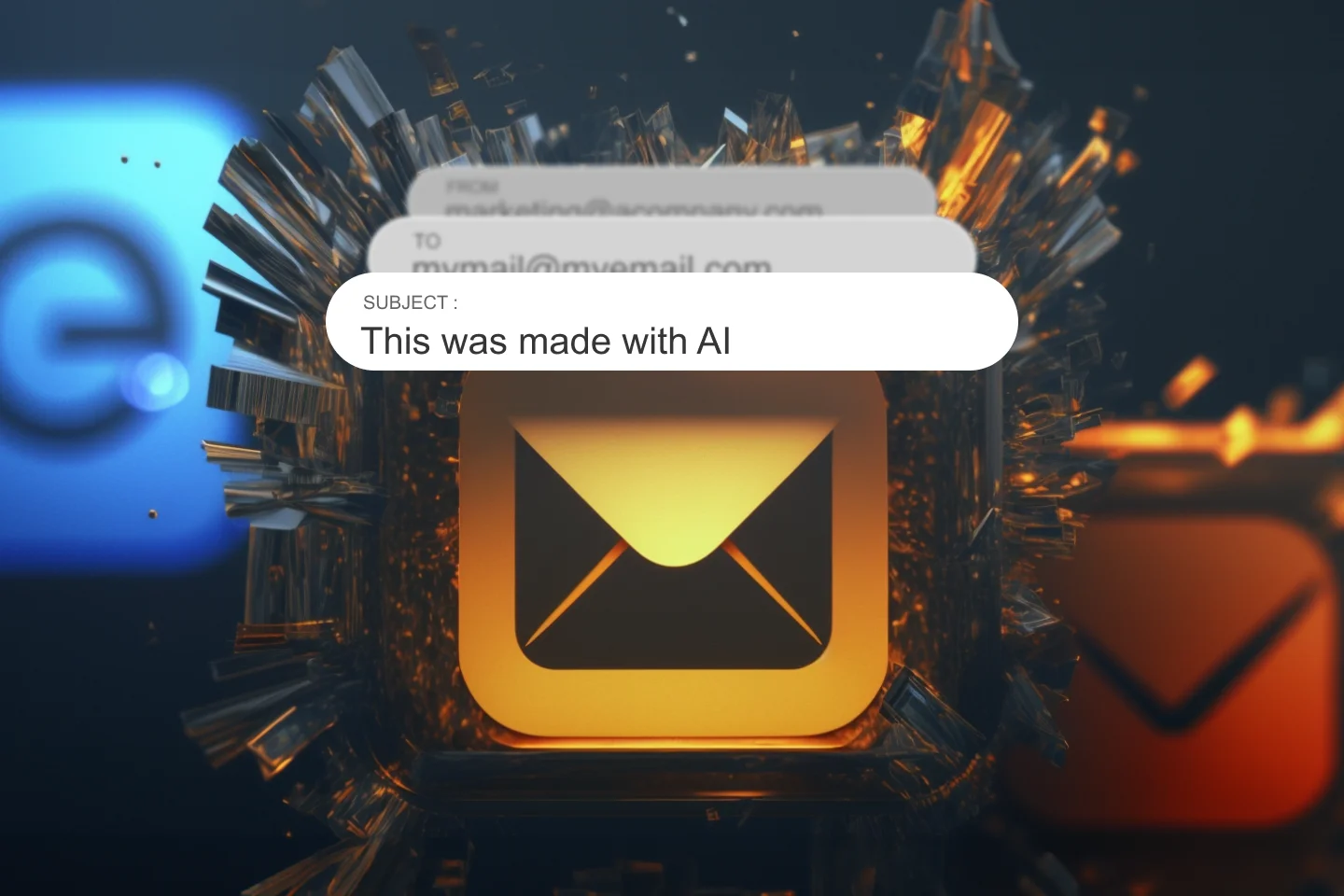







































![Na intimidade da arte fotográfica[À Sua Imagem]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xTDncqPPQLL6Z3Vk6C-saHZ5-a0EwP2zRynM1yxjCwxr6eib8hM4NTla42rgR9RseH3LBfZQQTEhWSiJjBJA5pXRldX85P4Bonbt5iLCvQtJ-3cJuqfwphzhQXIr2Y36DEWHlUvkfeWzxt33IcmSekvsUbJ_yqtQoZRPFrIRihAvY0R2kUYAsQ/w1200-h630-p-k-no-nu/A%CC%80%20SUA%20IMAGEM.png)




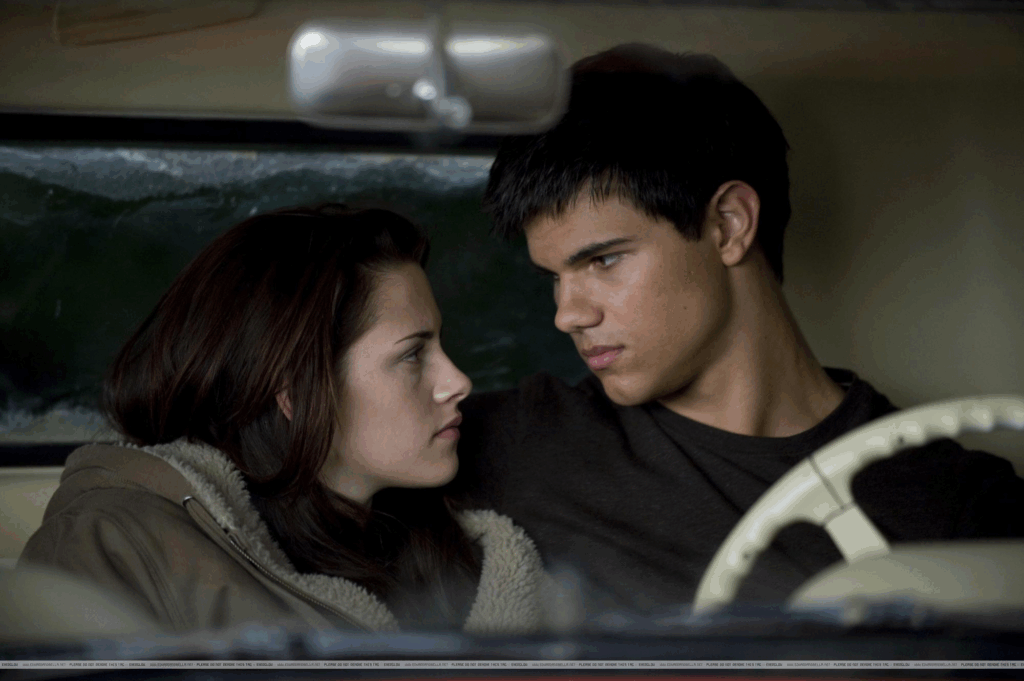









































































.jpg)


.jpg)























